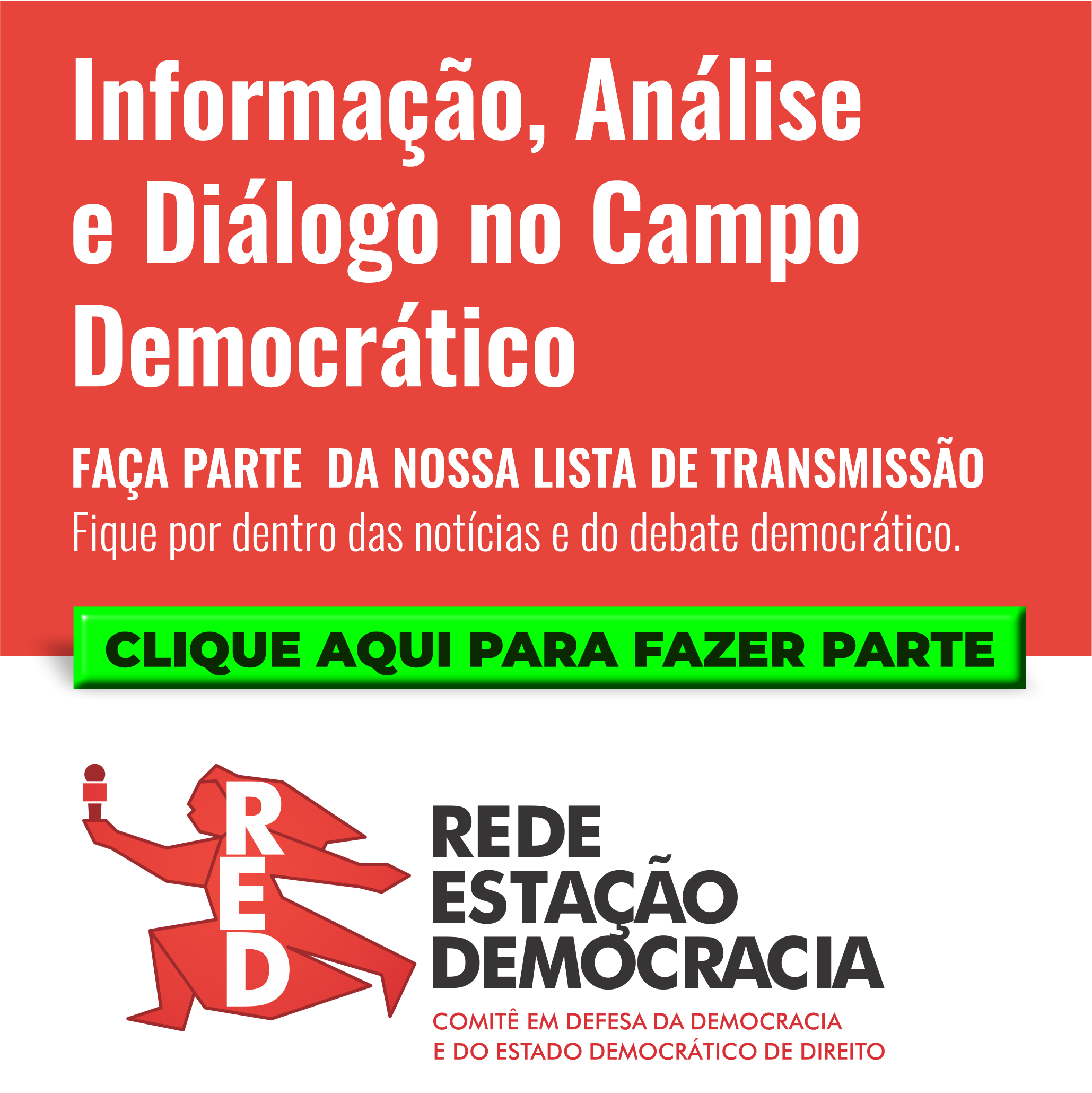Curtas
Em áudio, deputado gaúcho Busato reclama de propina parcelada em 30 vezes
RED
O deputado federal Luiz Carlos Busato (União-RS), ex-prefeito de Canoas, cidade na região metropolitana de Porto Alegre, é citado em uma delação sob suspeita de ter recebido propina em contratos na área de saúde firmados pelo município em sua gestão (2017-2020).
Em áudios apresentados pelo delator —- um médico que estava à frente de uma organização social que prestava serviços à prefeitura na área da saúde —- o então prefeito negocia os valores, reclama de atrasos e pressiona seu interlocutor.
Em um dos áudios, o então prefeito cobra o médico depois de aumentar os repasses à organização social GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva): "Bom, então se estamos aumentando R$ 4 milhões, R$ 5 milhões, acho que tem condições de o GAMP pegar uma parte e acertar conosco."
Faz pressão para o dinheiro ser pago sempre na mesma data: "(...) Isso é religioso. Não vai mais ter problema daqui pra frente, ok? Seja 700, 800, é o do mês. Depende do quanto entrar. 15 dias após fechar o mês. Combinado é combinado."
Reclama do que seria uma proposta indecorosa, o parcelamento dos pagamentos atrasados do esquema: "(...) Cássio se comprometeu a, de agora em diante, pagar o do mês, não vai deixar atrasar o do mês, senão esse troço vira uma bola de neve (...) e propôs pagar em 30 parcelas, em 30 meses. 30 meses não tem como, Cássio."
Dá uma bronca por causa de nova interrupção de pagamentos: "O que me interessa é o nosso acordo. (...) não podemos ficar indefinidamente na esperança de "ah, agora tem a Polícia Federal, tem, não sei o que que vai acontecer (...) Porra, se nós já fizemos um esforço de aumentar de 16,5 (milhões) para 21 (milhões)", diz o prefeito.
Por fim, Busato reclama que não pode ficar um ano sem receber "a cada peido da Polícia Federal".
Cássio Souto dos Santos é o médico que estava à frente da administração do GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva). Em 2018, ele chegou a ficar preso preventivamente no âmbito de uma operação sobre os desvios na saúde de Canoas. Em 2020, ele fez um acordo de delação premiada e entregou os áudios aos investigadores.
Os áudios em que a voz de Busato aparece foram gravados pelo próprio Cássio, durante encontros com o então prefeito, enquanto o esquema funcionava na cidade.
Procurado pelo UOL, o ex-prefeito nega a autenticidade dos áudios e diz que não cometeu nenhuma irregularidade.
"Desconheço o assunto mencionado e nunca fui notificado sobre o tema em questão. Além disso, reitero que os áudios que estão circulando não são verdadeiros."
Prejuízo de R$ 22 milhões
Busato ocupou o cargo de prefeito de 2017 a 2020. Em 2018, o MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) apontou que haveria superfaturamento e sobrepreço (orçamento acima do preço de mercado) nos contratos da saúde do município com o GAMP.
Essa organização recebia mais de R$ 10 milhões por mês para administrar contratos diversos na área de saúde, como prestação de serviços médicos, compra de medicamentos e equipamentos.
Em dezembro de 2018, foram presas preventivamente três pessoas ligadas ao GAMP, Souto dos Santos entre elas, suspeitas de peculato e lavagem de dinheiro. O prejuízo apontado pelos promotores estaduais aos cofres públicos foi de R$ 22,8 milhões.
Em seguida, o MPF (Ministério Público Federal) acabou assumindo o caso, já que havia o uso de verbas federais da saúde nesses contratos.
A delação de Cássio Santos Souto foi feita na PGR (Procuradoria-Geral da República) por envolver um político com foro em Brasília — uma das gravações apresentadas pelo delator faz menção ao atual presidente do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul), Marcos Peixoto, e ao conselheiro Alexandre Postal.
Segundo o delator, o prefeito teria pressionado o GAMP a contratar a empresa do filho de Peixoto, Gustavo Peixoto, a P&B Engenharia, para fazer uma reforma em um hospital. Foi fechado um contrato de R$ 1,8 milhão em agosto de 2017.
A delação do médico foi homologada pela ministra Nancy Andrighi, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), em 2022. Os procuradores passaram então a investigar o "núcleo político" que se beneficiaria do esquema.
Foram abertos 46 inquéritos, todos sigilosos, dos quais 17 já viraram ações penais. As investigações envolvem tanto políticos como empresários.
Segundo a delação de Souto dos Santos, haveria uma taxa de propina de 3,5% nos contratos fechados pelo GAMP. O então prefeito receberia 50% desse valor; Germano Dalla Valentina, seu chefe de gabinete na época, ficaria com 30%, e os 20% restantes seriam repartidos entre outros funcionários da prefeitura.
Germano disse, através de seu advogado, que "sempre atuou na gestão pública com respeito à legalidade" e "nunca recebeu qualquer valor ilícito". "Trata-se de uma imputação totalmente descabida."
"No período que esteve vinculado ao gabinete do prefeito na Prefeitura de Canoas (RS), trabalhou com lisura e buscou o melhor para o município."
Os conselheiros do TCE-RS, Marcos Peixoto e Alexandre Postal, foram procurados através da assessoria do tribunal na quarta-feira passada (16), mas não houve resposta até a publicação desta reportagem.
Souto dos Santos entregou à PGR dois áudios de conversas com o então prefeito, datadas de 2018, quando o GAMP prestava serviços à prefeitura.
Em um deles, Busato cobra a retomada dos pagamentos ao núcleo político do esquema. Ele diz que, em troca de aumentar o valor do contrato da prefeitura com o GAMP, seria preciso "pegar uma parte e acertar conosco".
"Eu quero que o GAMP cumpra o compromisso conosco. Aumentamos de R$ 16,5 milhões pra R$ 20 milhões? Bom, então se estamos aumentando R$ 4 milhões, R$ 5 milhões, acho que tem condições de o GAMP pegar uma parte e acertar conosco. Ficou acertado isso que estou te falando aqui, na boa. E toca o barco."
Cássio Souto dos Santos argumenta que tinha dívidas da OS para pagar naquele momento. O prefeito diz, então, que a prioridade é o "acerto" entre eles.
"Tu tá falando em pagar dívida. Não foi isso que eu acertei com o Germano (Dalla Valentina), não foi isso que eu mandei acertar com vocês."
"Eu autorizei aumentar para que vocês tivessem um fôlego, parasse o problema, porque o que atinge vocês atinge nós. Nós somos parceiros, somos dois irmãos siameses. Os caras te cravam um prego no ombro, dói em mim também no meu."
O prefeito continua (16:30): "O que o Xaxá (Alexandre Bittencourt, seu secretário) e o Germano vieram me trazer: o Cássio se comprometeu a, de agora em diante, pagar o do mês, não vai deixar atrasar o do mês, senão esse troço vira uma bola de neve (...) e propôs pagar em 30 parcelas, em 30 meses. 30 meses não tem como, Cássio."
"Tem problemas, 'como é que eu retiro o dinheiro', não sei quê. Não sei. Tem que achar uma maneira", afirma o então prefeito ao representante da OS, segundo o áudio. "O que eu combinei com o Germano é em cima dos 21 (milhões)."
Souto dos Santos afirma que, diante de outras operações na região contra desvios na saúde, tinha dificuldade em entregar os valores combinados.
"(Eu disse ao) Germano, eu não tenho condições de trazer pra você R$ 2 milhões por mês. Primeiro, pela dificuldade. Olha o que aconteceu em Guaíba (operação do MP-RS em 2018). Das sete empresas, a única que saiu ilesa fomos nós, e olha que grampearam mais de 40 pessoas."
Greve dos caminhoneiros
No momento da gravação dos áudios, estava em andamento a greve dos caminhoneiros de 2018, dificultando o transporte interestadual.
No segundo áudio apresentado pelo delator, o prefeito diz que Souto dos Santos deveria trazer os valores de propina de avião, se fosse necessário. Germano Dalla Valentina também participa dessa conversa.
"O que me interessa é o nosso acordo. Eu sou parceiro, e acho que o Germano também, mas não podemos ficar indefinidamente na esperança de "ah, agora tem a Polícia Federal, tem nao sei o que que vai acontecer." P*rra, se nós já fizemos um esforço de aumentar de 16,5 (milhões) para 21 (milhões)", diz o prefeito.
É neste diálogo que Busato reclama que não pode ficar sem receber "a cada peido da Polícia Federal".
Cássio argumenta de volta que o caminho para os desvios deve ser "através de terceiros", contratados com verba de saúde municipal, ou "através de compras", já que seria arriscado trazer dinheiro de outros estados.
"Nós temos que ter uma segurança. Eu estou assustado (...) Tá muito complicado. Imagina botar R$ 800 mil dentro de um avião, nego me pega com avião, tô desgraçado. Não tem cabimento. (...) Eu pego avião de amigo, eu alugo. O caminho é através de terceiros ou através de compras", afirma.
O filho de Luiz Carlos Busato, Rodrigo Busato, é candidato a vice-prefeito de Canoas neste ano, na chapa de Airton Souza (PL). Ele disputa o segundo turno contra Jairo Jorge (PSD).
Com informações do UOL.
Foto: Luiz Carlos Busato (PTB) concedeu entrevista ao Jornal do Almoço (Foto: Reprodução/RBS TV)
As opiniões emitidas nos artigos expressam o pensamento de seus autores e não necessariamente a posição editorial da Rede Estação Democracia.