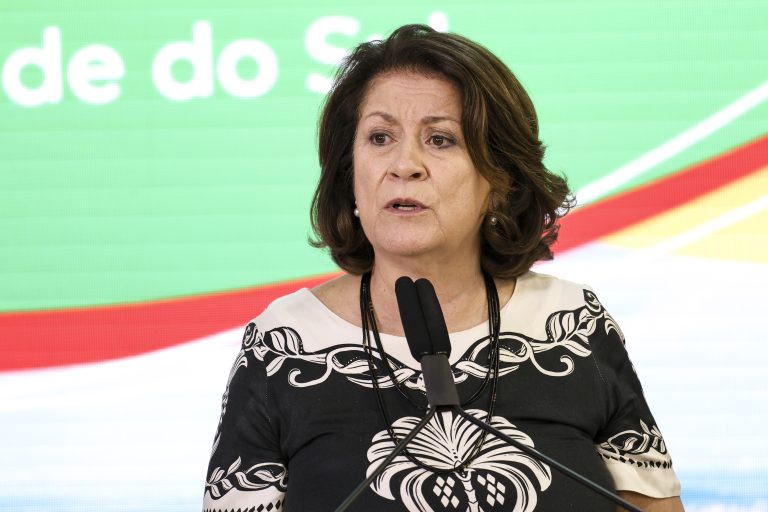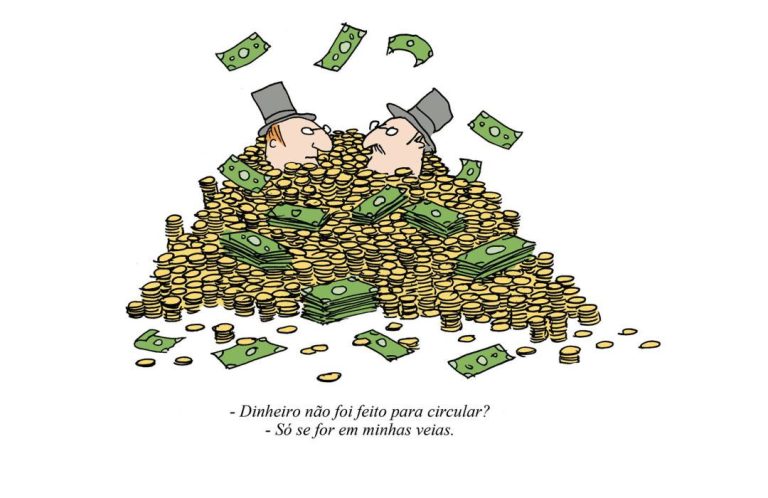Por JORGE BARCELLOS*
A redundância intrínseca ao sistema (dos meios de comunicação) tende a produzir o sensacional, fabrica permanentemente o novo, alimenta uma fome de acontecimentos.
A morte de Pierre Nora, no último dia 2 de junho, para a maioria das pessoas, passou despercebida. Mas para a minha geração de historiadores que se formou na UFRGS nos anos 80, a obra que organizou com Jacques Le Goff, História: novos problemas, abordagens e objetos, em 3 volumes, modificou a nossa maneira de fazer pesquisa histórica. Pela primeira vez víamos, nas disciplinas de Teoria da História, a fundamentação para outras metodologias de pesquisa que não fossem embasadas no materialismo histórico e dialético. A obra era um diagnóstico da situação da disciplina francesa, é claro, mas servia para historiadores em formação na América Latina como eu, com o seu espírito de inovação e os pontos de partida para novas pesquisas históricas.
É compreensível. A disciplina de história, que eu vivi no curso da UFRGS, vinha de uma herança marxista. O que sempre foi notável, pois essa formação nos dava uma perspectiva de crítica da dominação de classe social que não havia nos cursos das universidades privadas. Mas a proposta de uma nova história fascinava-nos por sermos estudantes ávidos por entrar no campo da pesquisa, e seguir o que já vinha sendo feito no centro do país era ainda um sonho distante. Aqui entre nós, tive a felicidade de ser orientada por Sandra Pesavento, então a historiadora que trazia, em suas pesquisas, os novos temas da história, como urbanismo, vida cotidiana e mentalidades.
Uma nova história
Cada volume influenciou minha geração. Os novos objetos traziam os temas do clima que, ainda que fosse à época algo que a maioria dos professores ridicularizasse em relação aos outros temas da pesquisa histórica, com o aquecimento global das últimas décadas revelou-se de grande atualidade no texto de Emmanuel Le Roy Ladurie, “Clima: história da chuva e do bom tempo”. Depois, eles também foram de caráter premonitório, como a proposta de temas como a opinião pública que fez Jacques Ozouf, ou os jovens, na visão de Pierre Vidal-Naquet. Eu, particularmente, fui muito influenciado pelos artigos sobre o corpo de Jacques Revel, e sobre as mentalidades, de Jacques Le Goff. Sua visão foi fundamental para meu trabalho de conclusão, Cultura e Sexualidade, que, orientado por Sandra Pesavento, foi, nos anos 80, o primeiro trabalho de história da sexualidade no Rio Grande do Sul: te cuida, Michel Foucault!
Quanto ao volume Novas Abordagens, eu não dei tanta importância na época, ainda que, para muitos colegas de minha geração, também tenham sido essenciais. Pelo menos aqueles que seguiram seu caminho no campo da história das artes ou da política, já que os artigos de Henri Zener e Jacques Julliard foram a base de pesquisa para estes campos. Hoje, eu mesmo, retomando temas religiosos, sinto falta da leitura dos artigos de Alphonse Dupront e Dominique Julia sobre o tema. Ali havia também um texto de Jean Starobinski que se revelaria fundamental depois, com seus estudos sobre a melancolia.
Retornar aos fatos
Pierre Nora se destacava na coleção com o texto O retorno do fato. O que era paradoxal, já que a maioria dos textos dos volumes, ao tratar de novas perspectivas da história, terminava por sobrepor aos fatos, as mentalidades. Nesse volume, são provas disso o artigo sobre história conceitual, de Paul Veyne, o sobre história social e ideologia das sociedades, de Georges Duby, ainda que o marxismo propriamente dito nunca tenha saído da base da proposição desta nova história, apenas sendo avaliado e atualizado, como o fez Pierre Vilar em seu História marxista, história em construção. Então, se a maioria dos historiadores se dedicava a ampliar o alcance da história, justamente buscando fugir da história positivista, por que Pierre Nora ainda privilegiava o “retorno ao fato” em suas análises?
É preciso voltar a este estudo clássico para entender sua atualidade. O artigo era uma versão remanejada de um texto publicado por Nora na revista Communications no ano de 1972. A própria trilogia foi publicada originalmente pela Gallimard dois anos depois e a versão que tenho em mãos, da Editora Francisco Alves, é de 1976. Então, entre sua publicação em França e no Brasil se passaram apenas dois anos, ainda que somente quase dez anos depois, em 1985, eu tivesse acesso à obra. Era uma referência nova nos cursos de história do Rio Grande do Sul, ainda que, no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, já tivesse inspirado estudos de pós-graduação notáveis, como o de Marcos Silva, que seguira a receita dos historiadores brasileiros: reunir as influências da historiografia francesa, da qual Nora era um dos representantes, mas não somente dele, mas também da historiografia inglesa, da qual E.P. Thompson e Eric Hobsbawm eram outros. Era o melhor de dois mundos, ainda que, mais tarde, em nível de análise de pressupostos, nem sempre concordassem.
Em O retorno do fato, Nora problematiza o lugar da história contemporânea. Sem identidade e autonomia, ele diz que é uma história puramente francesa, produto das reformas de Victor Duruy, que introduziu o ensino secundário “fazendo justiça à censura imposta à história nacional pela Revolução. Nenhuma época viu, como a nossa, viver seu presente como já possuído de um sentido histórico” (p. 180). Nesse novo mundo que se sucede às guerras e à descolonização, para Nora, ele também possui suas leis e sua especificidade: “essa circulação generalizada da percepção histórica culmina num fenômeno novo: o acontecimento.” Essa visão de Nora apresentava uma diferença. O acontecimento do passado, o que se entendia por ele antes do terço final do século XIX, estava na defesa da escola positivista que dizia que a história era o produto do passado separado do presente, encadeado em acontecimentos. “A história só nasce para uma época quando está completamente morta; o campo da história é o passado.” O acontecimento traz a história ao presente.
O paradoxo do acontecimento
Para demonstrar sua tese, Nora divide sua análise do acontecimento em três partes principais: produção, metamorfose e paradoxo do acontecimento. Ele constata que o fenômeno do mass media, da indústria cultural, monopolizou a produção da história pela conquista do acontecimento, o que é facilmente constatável em seu papel nos telejornais. “O fato de terem acontecido não os torna históricos. Para que haja acontecimento, é necessário que seja conhecido” (p. 181). E, assim como Nora relaciona a produção dos acontecimentos à expansão dos meios de comunicação, especialmente os jornais, é fácil interpretar sua atualização nas redes sociais atuais. Se o caso Dreyfuss é para Nora a irrupção do acontecimento moderno, com todo o campo e documentos e confidências em cadeia, além do apelo à opinião, “a ela se deve a volta de um tipo de acontecimento: aquele onde os fatos se escondem e demandam a crítica da informação, a confrontação dos testemunhos, a dissipação do segredo mantido pelos desmentidos oficiais, o colocar em questão princípios que apelam à inteligência e à reflexão, o apelo obrigado a um saber prévio que somente a imprensa escrita pode fornecer e recordar” (p.182). Nora não imagina um mundo sem jornais, como para nós é impensável um mundo sem redes sociais: o problema é que em ambos se exige a crítica que a comprovação dos fatos faz.
Talvez possamos encontrar, por outro lado, na valorização do rádio que Nora faz no período entreguerras e da Segunda Guerra Mundial, um paralelo com a atual mania dos podcasts. O mundo dos discursos políticos de Nora, que o rádio viabiliza, faz parte dos grandes acontecimentos daquela época. “Palavra radiofônica que funciona em diferentes níveis. É ela, antes de mais nada, quem assegura a importância do acontecimento, caracterizada pela quantidade de palavras que ele desencadeia. Franz Fanon mostrou o papel revolucionário desempenhado pela voz dos árabes na Argélia em Guerra. É a voz da história por meio de seus atores, que faz a palavra agitadora se tornar um acontecimento”. Acontecimentos estão assim ligados à imagem ou à fala, mas Nora chamou a atenção dos historiadores para o fato de que, em qualquer caso, sempre se tratam de montagem, de uma “escolha deliberada de imagens” (p. 183).
Nora, como visionário, viu nos meios de comunicação um lugar que tornou os acontecimentos algo monstruoso. “Não porque sai, por definição, do ordinário, mas porque a redundância intrínseca ao sistema tende a produzir o sensacional, fabrica permanentemente o novo, alimenta uma fome de acontecimentos” (p. 183). Essa explosão dos acontecimentos massivos transforma o acontecimento em monstruoso, como as redes sociais e a internet os convertem em perversos. Agora, a era da difusão das redes é também a das fake news. Nora anteviu o perigo da transformação do acontecimento pela mídia, mas seria incapaz de ver sua transformação pela internet.
O espetáculo do acontecimento
A segunda parte trata da metamorfose, que é, para Nora, a transformação do fato em acontecimento propriamente dito. “A diferença entre os dois fenômenos é teoricamente bastante nítida. O acontecimento pertence por natureza a uma categoria bem catalogada da razão histórica: acontecimento político ou social, literário ou científico, local ou nacional, seu lugar se inscreve nas rubricas dos jornais. O fato cotidiano ocupa um lugar simetricamente inverso: afogado no que se encontra espelhado, fora de categoria, consagrado ao inclassificável e ao que não é importante, remete, por outro lado, a um conteúdo estranho, a um contexto de convenções sociais pela lógica de uma causalidade que seja corrompida”. O acontecimento se constrói com o Outro, com o imaginário da massa, diz Nora. Para que o suicídio de Marilyn Monroe se transformasse em acontecimento, foi necessário que a sociedade visse nele o drama do star system. Na era do acontecimento, é preciso que tenha se instaurado o espetáculo. É no acontecimento que o historiador é substituído pela massa. “A publicidade é a lei de bronze do acontecimento moderno” (p. 186).
A informação é localizada entre o real e sua projeção espetacular, diz Nora, o que faz urgir a narrativa que faz dos fatos uma correia de transmissão. Ele lembra a lei de Gresham da informação que diz que “a má expulsa a boa”. No passado das sociedades tradicionais, o acontecimento era aquilo que rompia com o equilíbrio que as fundava. O acontecimento deixa assim de ser a rotina religiosa, as calamidades climáticas ou transformações digeridas através de ritos tradicionais. Eles passam a ser o que eu coloco em questão no equilíbrio das sociedades. “Não há acontecimentos felizes, são sempre catástrofes. Mas para exorcizar o novo há dois meios: conjurá-lo através de um sistema de informação sem informações, ou integrá-lo ao sistema de informação. Esse estado de superinformação perpétua e de subinformação crônica caracteriza nossas sociedades contemporâneas” (p. 187), diz Nora.
O que Nora chama de paradoxo do acontecimento é assim, o fato de que, ao mesmo tempo em que é fabricado, ele é degradado. O papel do historiador é exatamente esse: criticar o mecanismo de manipulação que a produção do acontecimento provoca. “O imediato torna de fato a decifração de um acontecimento ao mesmo tempo mais fácil e mais difícil. Mais fácil porque choca de imediato, mais difícil porque se manifesta totalmente de imediato” (p. 189). Nesse sentido, Nora antecipou a ideia de emoção coletiva de Paul Virilio, como na divulgação do assassinato de John Kennedy, instantaneamente divulgada, “mas [que] remete às profundezas da emoção mundial”. O acontecimento exige consciência crítica e, por isso, se não feito, colabora para a amnésia coletiva de nossa época. A sucessão dos acontecimentos constitui a superfície da sociedade, diz Nora. E nesse sentido, ele é “lugar de projeções sociais e de conflitos latentes” (p. 190). No cruzamento de um sistema formal e de um sistema de significação, um duplo sistema que é apropriado, manipulado e alienado, cabe ao historiador criticar. “Faz conscientemente surgir o passado no presente, em vez de fazer, inconscientemente, surgir do presente o passado” (p. 191). Nesse sentido, é notável que Nora inspire-se em ninguém menos que Jean Baudrillard, em seu livro O Sistema de Objetos, para definir o objeto de uma história contemporânea como aquele em que o acontecimento “seja uma maneira entre outras de reduzir o próprio tempo a um objeto de consumo e nele investir os mesmos afetos”.
A contraposição zizekiana
É notável também que Nora tenha antecipado em décadas o tema de um livro de Slavoj Zizek, Acontecimento: uma viagem filosófica através de um conceito (Zahar, 2017). Da mesma forma, Zizek vê o acontecimento como uma ocorrência que abala a vida comum, uma ruptura política radical, uma transformação da realidade. “Após um acontecimento, nada permanece igual, mesmo que não haja uma grande mudança aparente.” Para ele, “acontecimento [é] uma noção anfíbia com mais de cinquenta tons de cinza” (p. 7). Em que pese todo o arsenal usado para sua definição, dos acontecimentos da filosofia à psicanálise, Zizek define o acontecimento como “o efeito que parece exceder as suas causas” (p.99), quer dizer, seu ponto de vista não é o do historiador, mas do filósofo preocupado em determinar sua origem na filosofia, entre a abordagem transcendental e ontológica.
É uma abordagem que culmina na noção de que o acontecimento revela o ser, o modo como percebemos a realidade. Ela descreve a organização de sua obra, que se dá nos seguintes termos: “Vamos então imaginar que estamos viajando num metrô com muitas paradas e conexões, cada parada representando uma suposta definição de acontecimentos. A primeira parada será a mudança ou desintegração do arcabouço por meio do qual a realidade se apresenta para nós; a segunda, uma queda no sentido religioso. A isto se segue a quebra da simetria: a iluminação budista é um encontro com a verdade que desmonta nossa vida habitual; a imanência da ilusão da verdade que torna a verdade acontecimental; um trauma que desestabiliza a ordem simbólica em que existimos; o surgimento de um novo significante-mestre, um significante que estrutura todo um campo de significado; uma ruptura política radical; e a dissolução de uma realização acontecimental” (p. 12). O plano da obra mostra que um acontecimento é, por definição, uma relação com a verdade. Para Zizek, o acontecimento move um mundo. Exatamente como sugeriu Nora mais de quarenta anos antes.
Não irei comparar o desenvolvimento do argumento de Zizek sobre o acontecimento, o que sugiro ao leitor. Apenas gostaria de contrapor as definições de acontecimento de Nora às contribuições de Zizek no que aponta na parte final de sua obra, no capítulo sobre anulação dos acontecimentos, o que me parece complementar e finalizar minha proposta aqui. “A expressão alemã rückgängig machen, geralmente traduzida como “anular, cancelar ou desfazer”, tem uma conotação mais precisa: anular retroativamente alguma coisa, fazer parecer que ela não aconteceu” (p. 149). Zizek passa a comparar as Bodas de Fígaro, de Mozart, com as óperas figarescas de Rossini para mostrar que o que no primeiro é o espírito politizado de uma época, é despolitizado totalmente no segundo, “transformando-se simplesmente numa ópera bufa”.
É que Zizek associa a produção de Rossini justamente a isso, a da “Ungeschehenmachen”, da anulação, de fazer não terem acontecido as décadas revolucionárias precedentes. Rossini não odiou nem enfrentou ativamente o novo mundo – simplesmente compôs como se os anos de 1789 a 1815 não tivessem existido. Esse ponto é essencial: se a Revolução Francesa é o acontecimento da história moderna, Zizek imagina que é justamente por sua importância que os acontecimentos podem ser cancelados, anulados, fazendo-os desaparecer. É a postura dividida do sujeito em relação a algo, uma entidade, um fato, um acontecimento. Isso fica claro em seu exemplo sobre falar ou não da tortura a partir do filme A hora mais escura, da diretora Kathryn Bigelow. Para Zizek, a normalização da tortura equivale ao seu apagamento, ao seu cancelamento. “Muito mais nefasto é seu parceiro [de Maya, a heroína do filme], um jovem agente barbudo da CIA que domina passar suavemente da tortura à camaradagem depois de dobrar a vítima. Há algo profundamente perturbador no modo como, mais adiante no filme, ele passa suavemente do papel de torturador barbudo vestindo jeans ao de burocrata bem-vestido de Washington. Isso é normalização em seu estado mais puro e eficiente – um pouco de desconforto, mais pela sensibilidade ferida do que pela ética, mas o trabalho precisa ser feito. Por isso que A hora mais escura é muito pior que 24 horas, em que pelo menos Jack Bauer tem um colapso nervoso no final da série” (p. 153-4). Zizek chega assim à conclusão paradoxal de que, se a tortura sempre aconteceu, não é então melhor falar dela publicamente? “Esse é, exatamente, o problema: se a tortura sempre aconteceu, por que as autoridades agora estão falando dela publicamente? Só existe um motivo: normalizá-la, ou seja, rebaixar nossos padrões éticos. A normalização da tortura em A hora mais escura é um sinal do vácuo moral de que estamos nos aproximando gradualmente” (p. 155).
A atualidade do problema da memória e do acontecimento
Quando reconstruo o argumento tanto de Nora como de Zizek, não posso deixar de pensar nos dois exemplos de acontecimentos que marcaram esta semana Porto Alegre no campo da memória. Refiro-me, por um lado, às comemorações promovidas pelo Grupo RBS pela passagem do centenário de nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho (disponível aqui) e, por outro, à reportagem de Sul21 que trata do abandono do Museu do Negro em Porto Alegre (disponível aqui). Henri Pierre Jeudy, em Comemorar, um ato educativo (disponível aqui), afirma que “o ritmo das comemorações assume a aparência de um tempo sem ruptura. A celebração de uma lembrança determinante torna-se, em si mesma, um acontecimento esperado, preparado como um ritual. O ato de comemorar conjura o enfraquecimento eventual das memórias. Ele confere à lembrança o papel de um mito primitivo capaz de preservar a consciência de uma comunidade. As cenas se sucedem como momentos religiosos que reúnem os espíritos em torno de um ato de sacralização no qual a perfeição da mímica não permite nenhum enfraquecimento de seu exercício.”
Não foi exatamente assim que se sucederam as comemorações do grupo RBS? Matérias extensas na imprensa e na televisão, a promessa de continuidade da herança do fundador, tudo preparado exatamente como define Jeudy, como se constituíssem as etapas de um ritual? Víamos os funcionários da empresa na matéria do Jornal da RBS durante a semana sendo mostrados como parte da cena que integra as comemorações, mais ou menos como a obrigatoriedade impossível de recusar de participar das festas de fim de ano de uma empresa. Quando um acontecimento vira comemoração, ele se transforma no instrumento educativo da sociedade porque visa exprimir um consenso que oculta todas as críticas. Em relação ao grupo RBS, mostrei em Sler (disponível aqui) a crítica de Marco Weissheimer ao grupo: as comemorações ocultam o fato de sua influência política, por meio dos meios e recursos de que dispõe para apoio de políticas neoliberais. O poder do capital forja sua memória e as práticas políticas de seu interesse.
É o contrário do que acontece com a memória de grupos subalternos, que só possuem a si mesmos e ao poder público para sobreviver. O abandono do museu do negro mostra que ele ocupa o lugar da paródia da memória dominante, lugar que já foi do preparo das liturgias na Idade Média. Diz Jeudy que “Na Idade Média, as festas litúrgicas eram precedidas por cenas grotescas no decorrer das quais todas as liberações eram possíveis, no turbilhão de um sarcasmo geral. A cerimônia religiosa, antes de ser celebrada, se libertava assim de todas as tentações simiescas por uma mascarada coletiva. A cena profana preparava os ritos sagrados.” A comemoração da memória dos ricos nas sociedades modernas se faz da mesma forma, conjura a negação, nos termos de Zizek, das memórias subalternas, das memórias populares, tornando-se, por isso, nos termos de Jeudy, uma forma de zombaria. Não é essa a sensação de se ver o elogio da memória dos dominantes, por um lado, quando confrontadas com a omissão das autoridades na preservação da memória dos pobres? Lá estavam na cena o prefeito e o governador para celebrá-los, notável ausência no museu do negro que tem por obrigação preservar. E não foi exatamente esse o veículo que apoiou a reeleição do atual prefeito, hoje responsável por seu abandono, ou estou enganado?
A conclusão é que, nesse tecido, não há pontas soltas. Nossa indiferença está na incapacidade de relacionar o fato de que a existência da memória de uns se relaciona com o apagamento da memória de outros. Por favor! Se acreditam tanto nos valores herdados de seu fundador, não custava nada à RBS, na semana em que fez suas comemorações, abrir espaço para o descaso com o museu do negro. Não vi nada sobre isso em seus veículos. O que vimos por todo o lado foi, nos termos de Nora, a ênfase no acontecimento de uma memória, mas não o perigo que ali residia da ocultação de outra. Se Zizek deu tanta ênfase no seu contrário, a negação do acontecimento no espaço do público por sua ausência nos discursos, foi porque não falar também é uma ação política. Se a discussão de Nora e Zizek sobre acontecimento tem um valor real agora, que retorna especialmente pela morte do primeiro, é nos dizer que não falar do desaparecimento do museu do negro é a negação de uma memória. Se pudermos criticar tais acontecimentos como propõem os autores, constataremos que tanto comemorações como ocultações da memória servem para manter a lógica da dominação.
Publicado originalmente Sler.
*Jorge Barcellos é graduado em História (IFCH/UFRGS) com Mestrado e Doutorado em Educação (PPGEDU/UFRGS). Entre 1997 e 2022 desenvolveu o projeto Educação para Cidadania da Câmara Municipal. É autor de 21 livros disponibilizados gratuitamente em seu site jorgebarcellos.pro.br. Servidor público aposentado, presta serviços de consultoria editorial e ação educativa para escolas e instituições. É casado com a socióloga Denise Barcellos e tem um filho, o advogado Eduardo Machado. http://lattes.cnpq.br/5729306431041524
Foto de capa: Monumento O Tambor, integra o Museu de Percurso Nego, em Porto Alegre. / Reprodução do Facebook