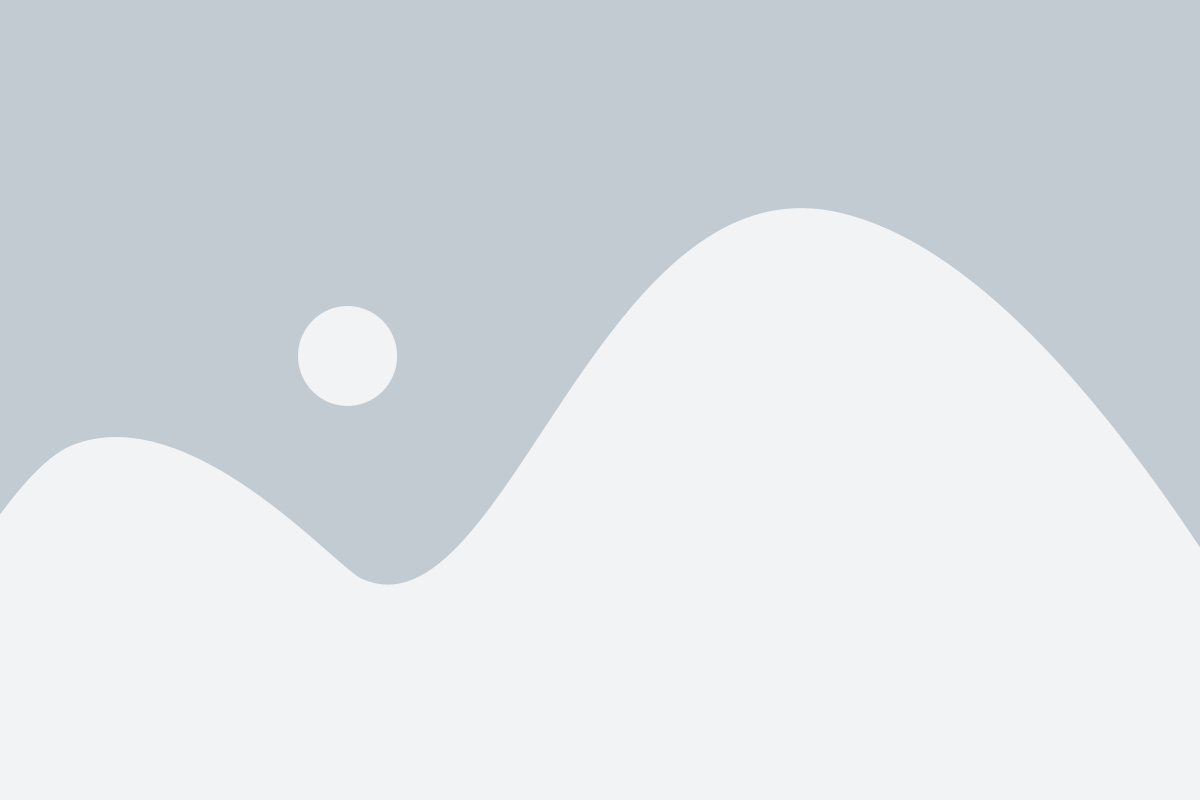O empresariado brasileiro reclama há décadas da baixa produtividade do trabalhador. O diagnóstico aparece em relatórios da Confederação Nacional da Indústria, em análises do Banco Mundial e em editoriais econômicos. Mas a pergunta raramente é invertida: quanto se investiu, historicamente, em inovação tecnológica, reorganização produtiva e qualificação ampla da força de trabalho? Quanto se transformou, de fato, a estrutura produtiva para produzir mais e melhor com menos desgaste humano?
A resposta, examinada com rigor, é desconfortável.
Ao longo de nossa formação econômica, predominou uma lógica recorrente: em vez de elevar produtividade por meio de tecnologia e qualificação, optou-se por intensificar o trabalho. Jornadas longas. Ritmo acelerado. Compressão salarial. É um padrão que atravessa séculos.
Não se trata de retórica. Trata-se de história econômica.
Escravidão, exploração extensiva do trabalho
O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, formalmente encerrada pela Lei Áurea de 1888. Durante quase quatro séculos, estruturou sua economia sobre trabalho compulsório. Quando o custo do trabalho é reduzido à coerção, o incentivo à inovação tecnológica diminui. Expande-se a produção ampliando braços, não inteligência organizacional.
O caso do café é ilustrativo. O Brasil liderou por décadas em volume, mas frequentemente com qualidade inferior à de concorrentes que investiram mais cedo em técnicas de seleção e beneficiamento. A aposta era na quantidade extraída da exaustão, não na sofisticação produtiva.
O mesmo se observa nas charqueadas do Rio Grande do Sul. Com base no trabalho escravizado, produziram um charque que, em diversos momentos, custava mais caro e apresentava qualidade inferior ao produzido no Uruguai, onde predominava o trabalho livre nas estâncias e saladeros. A estrutura social molda a estrutura produtiva. Onde o trabalho é desvalorizado, a inovação também o é.
Às vésperas da abolição, os grandes proprietários rurais mobilizaram um repertório de argumentos que hoje soam desconcertantemente atuais. Alegavam que o fim da escravidão provocaria colapso econômico, quebra da lavoura, perda de competitividade internacional e fuga de capitais. Diziam que o país não estava “preparado” para o trabalho livre.
O tempo demonstrou o contrário. A produção não desapareceu. O país não entrou em ruína. O que ruiu foi um modelo de trabalho baseado na coerção.
A escravidão não foi apenas uma tragédia humana. Foi um entrave ao desenvolvimento tecnológico autônomo. Criou uma cultura empresarial avessa ao investimento tecnológico e organizacional e inclinada à exploração extensiva da força de trabalho.
A herança que não se rompeu
A abolição não alterou radicalmente a mentalidade econômica dominante. O país ingressou no século XX com industrialização tardia, dependência tecnológica e desigualdade social. Ao longo do século, o padrão permaneceu com investimento limitado em pesquisa e desenvolvimento/P&D; baixa articulação entre a universidade e o setor produtivo; qualificação concentrada em nichos restritos e competitividade baseada em custos, e não em inovação.
Indicadores internacionais mostram que o Brasil investe proporcionalmente menos em P&D do que as economias centrais. A produtividade do trabalho, medida em valor agregado por hora, permanece distante da dos países desenvolvidos. Mas, paradoxalmente, a solução apresentada com frequência não é inovar mais, e sim trabalhar por mais tempo.
Produtividade não é virtude moral do indivíduo. É resultado sistêmico.
O debate contemporâneo sobre jornada
Nesse contexto surgem as propostas legislativas defendidas por Erika Hilton do PSOL e por Reginaldo Lopes do PT. O fim da escala 6×1 e a redução da jornada para 40 ou 36 horas semanais recolocam uma questão estrutural: é possível produzir mais com menos tempo de trabalho?
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada indica que a transição para 40 horas semanais é economicamente viável, com impactos administráveis sobre custos, especialmente se acompanhada de negociação coletiva e adaptação setorial.
Ainda assim, a reação empresarial repete o repertório clássico: aumento de custos, risco inflacionário, perda de competitividade, desemprego.
São argumentos que ecoam o século XIX.
O fantasma do ócio
Quando trabalhadores reivindicavam oito horas diárias, afirmava-se que o tempo livre produziria vícios e desordem social. A repressão foi exemplar. O Haymarket Affair, em 1886, em Chicago, tornou-se símbolo desse confronto: em uma manifestação pela redução da jornada, uma bomba foi lançada contra a polícia, que respondeu atirando contra a multidão. Lideranças operárias foram julgadas sem provas consistentes e condenadas à morte. Tornaram-se os “Mártires de Chicago”. Em homenagem à luta pela redução da jornada, o 1º de Maio foi consagrado internacionalmente como o Dia do Trabalhador.
A mensagem da repressão era clara: reduzir jornada era ameaça à ordem.
Paul Lafargue, em O Direito à Preguiça, ironizou essa moral seletiva. O ócio aristocrático era celebrado como cultura. O ócio operário era tratado como desvio.
Hoje, a linguagem é mais técnica. Fala-se em eficiência, metas, produtividade. Mas a suspeita sobre o tempo livre do trabalhador permanece latente.
Evidências que desmontam o dogma
Experiências recentes no Reino Unido com semana de quatro dias demonstraram manutenção ou crescimento de produtividade, redução de absenteísmo e melhora significativa no bem-estar. Empresas que reorganizaram processos — cortando reuniões improdutivas e priorizando foco — não apenas mantiveram resultados como, em muitos casos, os ampliaram.
Produtividade não é função aritmética de horas trabalhadas. É função de organização, tecnologia, qualificação e ambiente institucional.
Quando o Brasil insiste em jornadas longas como compensação para sua baixa sofisticação produtiva, perpetua um círculo vicioso: exploração intensa, baixa inovação, competitividade limitada.
Mais tempo de trabalho ou maior modernização produtiva?
A questão é estratégica. Reduzir jornada pode ser parte de um novo pacto produtivo baseado em: elevação do investimento em ciência e tecnologia, integração entre universidades e empresas, qualificação contínua da força de trabalho e modernização gerencial e digitalização. Uma organização produtiva que permita produzir mais em menos tempo.
Ou podemos continuar reproduzindo a lógica histórica: exigir mais tempo humano para compensar deficiências estruturais da organização produtiva.
A escravidão moldou nossa economia por séculos. Naturalizou a exploração intensiva. Mas não pode continuar moldando nossas escolhas.
Reduzir jornada não é utopia romântica. É debate sobre modelo de desenvolvimento. É discutir se o país quer competir pela compressão de custos com o trabalho ou pela inteligência produtiva. É decidir se o tempo humano continuará sendo variável de ajuste ou se passará a ser tratado como dimensão central da dignidade social.
A produtividade que importa não é apenas a que aparece nas planilhas. É a que constrói uma sociedade mais equilibrada, mais inovadora e mais democrática.
Foto da capa: Divulgação/Sindifes/ND Mais