Por JORGE BARCELLOS*
“Sem amigos ninguém escolheria viver, ainda que possuísse todos os outros bens.” Aristóteles, Ética a Nicômaco, Livro VIII, Capítulo 1, 1155a5-6
Na terça-feira passada, a equipe de articulistas de Sler reuniu-se para sua confraternização de fim de ano. Olho com atenção a imagem da reunião e escrevo as impressões que ela me provoca neste ensaio. Carlos André Moreira já fez a crônica dessas atividades de fim de ano em relação ao ambiente de trabalho (disponível em https://abre.ai/oeiW). E, quando convidei meu filho para me acompanhar, ele mesmo disse que não iria, pois “era uma reunião de trabalho”. Anna Tscherdantzew também já tinha escrito sobre as festas de final de ano (disponível em https://abre.ai/oeiX) e sugeria as dez regras para sobreviver a elas. Tanto Moreira como Tscherdantzew veem as festas de final de ano, estes encontros de família ou de trabalho, com certa ironia ou ceticismo: Moreira disse o que eu sempre quis dizer do amigo secreto; ri muito do texto de Tscherdantzew, que zoava com a ideia de que, até nas festas, tensões podem ocorrer, tema de seu quinto mandamento. Não é um tema incomum aqui, já que Fernando Guedes (disponível em https://abre.ai/oei1) e Cássia Zanon (disponível em https://abre.ai/oei4) também já escreveram sobre ele. Minha esposa não pode me acompanhar, de modo que lá fui eu sozinho no que seria minha primeira reunião, depois de faltar duas, para compartilhar com a equipe. Mas podemos chamar esta reunião de confraternização como uma reunião de trabalho? Eu entendo que não.
Eu sei o que são as confraternizações de trabalho. Fui servidor público durante 37 anos, o que significa 37 festas de final de ano, com seus amigos secretos, e 37 festas de aniversários, contando somente as minhas. O centro dessas confraternizações é o ato de dar presentes. Considerando que cada setor em que trabalhei no serviço público nesse tempo tinha entre 4 e 6 servidores, significa que participei de aproximadamente 222 festas de aniversário, que dei nelas aproximadamente 185 presentes, descontados, claro, os que eu recebi em minhas próprias festas de aniversário, e mais 185 em festas de final de ano, totalizando 370 presentes. Estas comemorações são festas, o lugar da dádiva de que fala Marcel Mauss em seu famoso ensaio, nosso lugar de exercer a obrigação de dar e receber presentes, base das sociedades e também de nosso grupo. Olhando agora de forma prospectiva, acho que nunca dei ou recebi livros de presente: não pelo preço, já que há muitos que ficam naquela faixa escolhida geralmente do amigo secreto de trabalho no Brasil, algo entre 30 e 50 reais; simplesmente, nesse mundo dos objetos de que fala Jean Baudrillard, todos sempre priorizavam para o Outro aquilo que priorizavam para si: objetos de consumo imediato como vinhos, objetos decorativos, agendas, gravatas ou canetas, mas raramente, que eu me lembre, livros. Falo dos livros que foram presenteados ao final do encontro, pois eles têm um papel essencial aqui. Quando eu comecei a dar os livros que publicava, eu via um olhar de tristeza que contrastava com um leve “Obrigado”. Era como se o presente fosse mal recebido, imaginava a pessoa pensando “podia ser algo mais útil, entende?”.
Academias literárias modernas
Na minha reunião de fim de ano, não. Era como se fôssemos uma espécie de maçonaria dos livros; ali a maioria lê, escreve ou tem livros como objeto de adoração. Superamos a rusticidade dos antigos ritos, que eram da natureza, da fertilidade ou do tempo, para elaborá-los sobre a forma desses registros que fazemos com a escrita. Não cortamos mais o pescoço dos animais em sacrifício; basta que estejamos dispostos a expor o nosso em sacrifício público, expor o que escrevemos, o que fazemos com a palavra escrita. Somos como os membros das antigas academias literárias gregas e romanas, que tinham sábios escritores como Platão, como na Academia de Atenas, assim como temos Celso Gutfreind em nosso grupo; reinventamos o espírito das Sociedades Literárias dos séculos XIX e XX, transformando o Salão de Festas do prédio onde mora Luiz Fernando na nossa versão dos salões franceses de leitura. Eu lamento que hoje até esses espaços tenham sido privatizados: há editoras que fazem clubes de leitura, enviando “livros surpresa” para quem se dispuser a participar deles, sua forma de livrar-se de sobras de estoque de seus livros; há grupos de leitura nas redes, mas o próprio mecanismo de funcionamento da internet faz com que a profundidade perca espaço para a velocidade.
Falo de livros porque Silvia Marcuzzo propôs uma troca-troca de livros, uma espécie de amigo oculto instantâneo literário. Isso fazia sentido e era de fácil execução porque a maioria de nós era autora, e se é da nossa natureza, por que não? Todos gostaram, e eu principalmente, pois poderia matar dois coelhos: aliviar a culpa por não ter participado das reuniões anteriores e divulgar minha produção. As coisas não saíram exatamente como eu previa: levei livros para quase todos, o que dá mais ou menos 14 exemplares, mas, como não chegamos a estabelecer regras (o que era ótimo para o lado anarquista que alimento), se era para doar ou cada um pega o que quer, eu temia que o encontro se transformasse numa batalha campal. De certa forma, eu recebi muito mais do que dei: um exemplar de Brasília, 1956-2006, organizado por Cibele Vieira Figueira, e E fomos ser gauche na vida, de Lelei Teixeira, já na segunda edição. Ambos, em edições finas e profissionais produzidas por editoras consagradas; eu, o primo pobre com obras feitas por autopublicação para o Clube dos Autores. Digo mais do que dei porque ambas tratavam de temas que admiro: as cidades, de Figueira, ou as identidades, de Teixeira. Adiante escreverei sobre ambos.
Uma plataforma como lugar
Luiz Fernando ofereceu seu lar como espaço de confraternização, exatamente como vejo a plataforma, como extensão de nossa casa. Nela ficamos à vontade, e todos ficamos assim lá. É claro que, para quem como eu abre o portão de seu apartamento com uma chave, os recursos de tecnologia do seu prédio foram o que primeiro me chamou a atenção. Eu do mundo analógico, ele do digital: é que fizemos nosso encontro em um desses prédios-fortaleza que povoam nossas cidades, com suas trincheiras a serem ultrapassadas uma após uma depois que você é recepcionado por uma tela de televisão. Acho graça nisso, pois moro num prédio antigo dos anos 40 que gosto muito, mas o prédio de Luiz Fernando lembra o mesmo tipo de imóvel de uma prima de minha esposa, e isso já nos fala de como é difícil visitar os amigos e conhecidos, tamanhas as barreiras que nós mesmos colocamos em nossos prédios. É o preço da tecnologia de segurança, mas eu ainda acho estranho: onde está o velho zelador como Eliseo (Guillermo Francella) da série Meu Querido Zelador (Disney, 2022), que dá bom dia e lhe entrega as correspondências de todo o mundo? Nosso grupo quer sobreviver como coletivo num mundo em que tudo é feito para produzir o isolamento, daí seu mérito. Por simplesmente existir, já é uma espécie de declaração de guerra contra o capital, eu penso.
Eu chego no salão como cada um dos convidados, muito devagar. Luís Fernando e sua esposa me recebem calorosamente e eu me apresento como a atualização do ‘homem do saco’, já que estava com uma sacola cheia de livros. Esse mito surgiu na Idade Média Europeia para disciplinar crianças e garantir obediência. Talvez nosso grupo não seja muito diferente dessas crianças teimosas, mas, ao contrário delas, que não querem saber de ler e escrever nada, nós só queremos saber de ler e escrever tudo. A reunião inicia e os convidados continuam a chegar lentamente. Temo por um colaborador que quase esbarra num vidro pensando que é uma porta e corro para alertá-lo. Como em qualquer outra reunião, há fases determinadas: apresentação ao anfitrião, formação de primeiros grupos e confraternização geral. A primeira é a chegada e recepção calorosa pelos organizadores e donos do lugar; a segunda, da auto-organização dos pequenos grupos de conversa; a terceira, organizada por Silvia Marcuzzo, que constou da apresentação dos presentes e seus livros. Na segunda fase, me aproximo de Karen Farias por simpatia por sua militância, de Léo Gerchman por saber de sua curiosidade por história, já que eu também sou historiador; de Celso Gutfreind por uma admiração de longa data por seus textos em ZH e Fernando Neubarth, para compartilhar as vicissitudes da publicação. Se eu errar algum nome, peço que perdoem. No primeiro dia de aula, é difícil para os professores acertarem todos. Quando já se passaram algumas horas e estamos prestes a iniciar o centro da reunião, começo a me preocupar com o horário. Esta é a fase em que eu tenho o péssimo hábito de me autossabotar em grupos coletivos: é quando começo a me preocupar em retornar para meus afazeres domésticos. Eu já estava quase saindo à francesa quando senti aquele sentimento vergonhoso de que eu não podia deixar de participar da terceira fase. Eu devo ser o único ali com horários certos de almoço e janta, além de atribuições específicas no lar, onde sou, no caso, o responsável pela janta da família, que ocorre sempre às 21h. Sempre. Pontualidade britânica. Comida servida na última badalada do relógio. Poucos sabem reconhecer que aquecer o que a esposa fez no almoço é uma das grandes tarefas desvalorizadas dos homens de nosso tempo. Essa enorme responsabilidade faz parte do casamento, estava nas letras miúdas do contrato que eu assinei e que, como todos os maridos, não li. Então, quando já estava para sair, vi que o centro do encontro estava prestes a começar.
Projetos pessoais e de vida
É desta fase que quero falar agora. É que estava ali algo maior do que a apresentação pessoal. Era a apresentação de um projeto pessoal, uma coisa muito cara a cada um que estava ali, um projeto de vida. Luiz Fernando teve uma visão: criar um lugar onde seus escritores convidados pudessem viver sua paixão pela escrita. Por meio dela temos o prazer de ver nossas ideias reconhecidas, compartilhamos o sentimento de observar o mundo de uma forma crítica e temos nosso modo de afirmação de liberdade no planeta. Se hoje as pessoas estão mais interessadas na reflexão do que na paixão, como diz Adauto Novaes na introdução de Os Sentidos da Paixão (Cia das Letras, 1990), aqui reunimos o melhor dos dois mundos possíveis, refletimos em nossos escritos nossas paixões, os temas que nos interessam e o que nos incomoda. “Através da paixão, critica-se a visão intelectualista do pensamento; com a paixão, pode-se realizar uma reflexão por inteiro, uma vez que ‘espírito e corpo são uma só e mesma coisa’ (p. 12). A escrita é assim, nossa arte e nossa paixão. Foi somente por dar-se conta disso que Luiz Fernando foi capaz de reunir tantas pessoas diferentes e incríveis. A paixão pela escrita estava no campo das ações cotidianas de cada um que ele convidou para escrever: criticamos as redes sociais, mas elas também podem acrescentar mundos ao que vivemos.
Se a nossa existência na internet possibilita uma conquista qualitativa sobre a comercialização do meio, a reunião de seus integrantes acrescenta uma nova dimensão. Ele é o estado nascente de um movimento coletivo de escritores.Essa é a minha redefinição da noção de enamoramento de Francesco Alberoni. Em Enamoramento e Amor (Rocco, 1986), o sociólogo italiano Francesco Alberoni aborda o enamoramento como um fenômeno coletivo, com sua individualidade própria. “Os sentimentos de solidariedade, renovação e alegria de viver são bem semelhantes em ambos os casos. A diferença fundamental reside no fato de que os grandes movimentos coletivos são constituídos por muitas pessoas, estando abertos a qualquer indivíduo. O enamoramento, porém, ainda que seja um movimento coletivo, só acontece entre duas pessoas” (p. 5). Eu vejo essa noção como interessante para definir nosso coletivo de autores e discordo apenas do final de sua definição. Na fotografia que tiramos do grupo e que ilustra este ensaio, eu vejo um coletivo enamorado pela escrita. Somos sim, muitas pessoas — somente 15 na reunião, fora as que não puderam estar presentes — marcadas pelo sentimento de solidariedade, renovação e alegria de viver. A solidariedade está no colega que entrega um livro que queria para que outro possa doar à sua mãe; a renovação está na apresentação coletiva que alimenta o trabalho individual e coletivo e a alegria de viver está no ritual de comensalidade praticada: compartilhar o choripan. Estamos todos enamorados, sim, da palavra escrita, dos livros que produzimos e admiramos. Se isto também não é um momento coletivo religioso, eu não sei qual pode ser.
A imagem de nós mesmos
Ainda sobre a imagem do grupo, como diz Susan Sontag em Sobre Fotografia (Cia das Letras, 2004), fotografamos o momento para nos apropriarmos dele e afirmarmos que mantemos uma relação entre nós que nos diferencia do mundo. “Imagens fotografadas não parecem manifestações a respeito do mundo, mas sim pedaços dele, miniaturas da realidade que qualquer um pode fazer ou adquirir” (p. 15). Nossa imagem oficial é uma redução em escala do que se viveu e aconteceu naquele salão de festas. Eu gostaria que as imagens tiradas desse evento e todos os demais fizessem parte de um álbum de fotografias de nosso coletivo de autores, como fazemos com uma criança para acompanhar seu desenvolvimento: tudo impresso, em ordem cronológica, no plano e num livro para não perder suas características essenciais. Ali haveria uma sequência que seria a própria história desse grupo e de minha participação nele. Sontag discorda disso, lembrando o filme Si j’avais quatre dromadaires (1966), de Chris Marker, pois afirma que não podemos impor uma cronologia para olhar fotos, para não impor um olhar ao leitor. A liberdade de ser deve ser a mesma da liberdade de ver. Não concordo com isso, para mim a cronologia importa porque sou um historiador, mas… bem, como ela é Susan Sontag, então deixa para lá.
Nos termos de Sontag, aquela foto é um testemunho fundamental do que aconteceu. O futuro saberá que um grupo de intelectuais de Porto Alegre foi capaz de constituir-se como um coletivo crítico, prova incontestável de que é possível romper a estrutura alienante da vida cotidiana, de que fala Agnes Heller. Somos a prova de que é possível sairmos do lugar social em que estamos determinados -o trabalho na universidade, o aposentado que cuida de seus afazeres e seu cão (eu), o psicanalista às voltas com suas sessões, o militante negro que organiza um espaço para sua identidade – e voltarmos para um terceiro lugar que desafia e organiza nossa paixão. Eu me lembro de cenas assim apenas na universidade, como já contei aqui, quando participei de grupos de estudo que varavam a noite na casa do professor de história Luiz Dario Teixeira, sobre, é claro, obras de Marx nos anos 80. Que alegria sair da rotina da universidade e ir para um grupo em que todos compartilham um ideal: antes, o revolucionário, nos anos 80; hoje, o da sobrevivência pela escrita, nos anos 2025.
Eu e a fraternidade
Não é a primeira vez que o coletivo faz suas reuniões, ainda que seja a primeira vez que eu participe. Eu me lembro das imagens das anteriores e, por meio delas, vejo que o coletivo constrói a crônica visual de si mesmo como a de um conjunto de autores comprometidos com a paixão pela escrita. Se não me engano, foi Celso Gutfriend que disse no encontro algo como “a escrita nos faz sobreviver à loucura do mundo”, com o que concordo totalmente, e por isso essas imagens têm o mesmo significado das que tiramos em nossa família, pois também aqui se quer ser, de certa forma, um tipo delas. Nesse sentido, nos termos de Sontag, a fotografia serve para “celebrar, reafirmar simbolicamente, a continuidade ameaçada e a decrescente amplitude da vida familiar” (p. 19).
Talvez olhemos no futuro essas imagens e vejamos que tudo isso era outra coisa, que estávamos ali reunidos não porque compartilhávamos um espaço de escrita, mas porque todos nós, de alguma forma, compartilhávamos o sentimento de extrema solidão que o ato de escrever envolve. Nesse sentido, a plataforma talvez não fosse outro lugar senão aquele destinado a pessoas que se sentem inseguras, exatamente como cada um que se colocou timidamente apresentando sua obra na terceira fase de nossa reunião, temendo ouvir críticas, apresentando as obras que as transformaram de alguma forma. Eu não: eu já sei dos meus erros, sempre soube deles, até os defendo como fazendo parte da minha escrita. De certa forma, no mundo hoje dominado pela IA, na qual os autores já podem ser substituídos, eu sei que dizer que minha escrita é a de um ser humano que erra pode ser revolucionário. É como a anedota que imaginei e contei para Lelei e Léo, preocupados com um ou outro erro que passou em seus livros: “No futuro, toda a literatura será escrita por IA, e as pessoas irão procurar nos sebos antigos e empoeirados os livros do passado, pois são os únicos que continham erros; esses sim, serão reconhecidos então como obras de valor porque escritos por pessoas”. Para quem escreve, o maior medo é errar as palavras. Eu tento acertar, mas as vezes erro. Léo contou que encontrou em seu livro um ou outro erro, no hoje clássico, Coligay, e o quanto lamentava por isso, quando recebeu de Carlos André Moreira o consolo: “É licença poética”. Evitamos errar, mas podemos errar, e acredito que devemos lutar por defender até o erro no que escrevemos: são os meus erros, como Lelei comentou sobre uma editora que resolveu, à sua revelia, “corrigir” um texto de sua obra: jamais! Ela brandiu em uníssono.
Voltando a fotografia de registro oficial, é importante lembrar que a dependência da câmera só se manifestou no encaminhamento final da confraternização. Eu, mesmo tendo sido o primeiro a fazê-lo, o fiz como registro pessoal, mas a maioria não estava nessa vibe, só a assumindo no final. Fiz como registro da reunião para mandar para minha esposa, espécie de atestado de presença, afinal ela não pôde comparecer. Talvez sejamos todos apenas uma espécie de turista diferente na confraternização, viajando não para lugares paradisíacos, mas para livros paradisíacos. Eu vi que Silvia trouxe, ao contrário dos demais que trouxeram um livro recente, um livro antigo, daqueles dos anos 30 ou 40, acho, mas eu não consegui ver exatamente qual era e o que ela queria compartilhar, pois estava em outro grupo, ou “grupelho”. O termo é de Felix Guattari em Micropolítica: cartografia do desejo (Brasiliense, s/d), e é usado para se referir aos lugares e espaços onde a revolução pode ser feita, que deixam de ser lugares estabelecidos, as classes sociais, para serem todos os demais. “Os grupelhos de fato e de direito, as comunas, os bandos, tudo que pinta no esquerdismo tem de levar a um trabalho analítico sobre si mesmo tanto quanto um trabalho político fora. Por que os grupelhos, ao invés de se comerem entre si, não se multiplicam ao infinito? Cada um com seu grupelho!” (p. 16). Somos grupelhos como os bandos de Lampião, cangaceiros da palavra, homens e mulheres que vivem não do assalto ou violência, mas da escrita. Mas quem disse que a palavra não pode ser violenta, e servir para combater as classes dominantes em sua exploração?
Unidade de subversão desejante
Somos esse grupelho da escrita, aceitamos que somos escritores numa província do sul do Brasil, conscientes de que a extrema direita faz parte do cenário do fim dos tempos. Usamos a palavra escrita para escapar ao apocalipse, recuperamos por meio dela a vivência de um cotidiano sem exploração, o valor das instituições como a família e a escola. Ela é, em síntese, um lugar de combate à alienação social, ou “uma unidade de subversão desejante”, como diz Guattari. Quando Luiz Fernando, no passado, falou de uma crise de sustentação da plataforma, imediatamente entrei em pânico e propus sua transformação em escola: eu não toquei no assunto e ninguém também, talvez porque para os demais ainda não fosse o momento deste passo revolucionário; talvez sequer fosse o momento da vibe do grupo, talvez porque a plataforma não queira dá-lo simplesmente porque é uma janela para os autores e isso, por si só, também é revolucionário: havia novos autores que compartilharam ali sua produção, como Cibele e Anna. Cada autor ali é revolucionário à sua maneira, mesmo que, como relatou Fernando Neubarth, ele também esteja um pouco cansado do mercado editorial que está aí para fazer sua revolução particular literária.
Eu me lembro da conversa com Luiz Fernando para integrar a equipe, em uma mesa de uma loja de conveniência de um posto de gasolina. Enquanto tomávamos um café, ele me explicava o quanto a plataforma é politicamente diversa, mas frisava que era composta por autores do contexto da centro-esquerda. Era sua forma de dizer que não era um grupo político de escritores, mas era um grupo de escritores que tinham suas posições políticas. Fiquei feliz porque não eram todos da minha tendência, o PT; eram de pessoas que defendem ideologias no campo democrático. Sequer era um grupo que seguia um líder – Luiz Fernando não quer esse lugar, e muito menos o grupo se diz porta-voz de uma revolução. Mas não é exatamente isso que diz Guattari? “O trabalho dos revolucionários não é ser portador de voz, mandar dizer as coisas, transportar ou transferir modelos e imagens: seu trabalho é dizer a verdade lá onde eles estão, nem mais nem menos, sem tirar nem pôr, sem trapacear. Como reconhecer este trabalho da verdade? É simples, tem um troço infalível: está havendo verdade revolucionária quando você fica a fim de participar, quando você não tem medo, quando você recupera sua força, quando você se sente disposto a ir fundo, aconteça o que acontecer. A verdade foi claramente percebida em maio de 68, quando todos a entendiam imediatamente”. (p.16). É exatamente assim aqui: quando o grupo se reuniu em círculo, estava vivendo seu momento revolucionário, dizendo cada um a sua verdade, participando sem medo, o que significava recuperar, por meio do conjunto, forças para si próprio e para seu trabalho.
Voltar à poesia
Nem todas as armas dessa batalha são racionais e intelectuais. Há muita emoção também quando se luta. Silvia fez a declamação de um poema escrito por sua mãe, se entendi bem. Celso afirmou, entre uma conversa e outra, que o que queria realmente era escrever poesia e que se orgulhava de um livro que fez, em que uma imagem jovem sua as reúne. Eu assumo que nunca tive qualquer experiência de escrita de poesia, exceto os cartões que faço no aniversário de minha esposa. Então aprendo com isso. Eu sempre fui leitor e autor de não ficção, o que já relatei em meus ensaios, mas nessa caminhada, também aprendi a dar valor à poesia e há poetas aqui. Em Poetas que pensaram o mundo (Cia das Letras, 2005), Adauto Novaes fala da importância da forma poética. A poesia é o caminho para o bom uso da palavra, essa matéria-prima de todos os colaboradores. Entendi, em breve contato com Celso, que a forma que ele encontrou de manter viva a chama da poesia foi afeiçoar-se ao seu parente mais próximo, o conto, tema de seu O Terapeuta e o Lobo: a utilização do conto na clínica e na escola. Eu confesso que fiquei muito interessado em saltar sobre a mesa e pegá-lo, e eu mesmo dei a ele meu Pedagogia de Eros, minha dissertação de mestrado sobre Educação Sexual na Escola que autopubliquei pelo Clube dos Autores. Mas eu já estava ali contaminado pelo vírus da solidariedade: eu não peguei seu livro porque pensei na colega que é professora no contexto da educação antirracista; o próprio Celso não pegou meu livro porque queria dividir com a colega, também psicanalista.
Frente ao mundo egoísta em que vivemos, nós dividimos. Eu lembro da fala de Luiz Antônio quando lhe disse do egoísmo dos vizinhos: o meu, que instalou seu ar-condicionado em minha parede; os dele, que fazem barulho em festas e só pensam neles. Aqui não, pensamos imediatamente no outro. Isso coloca uma nova resposta à pergunta platônica recuperada por Novaes: se, no livro X da República, Platão pergunta “O que sabem e o que pensam os poetas? O que fazem os poetas? Ele responde “Nada”. Aqui os poetas nos ensinam que a solidariedade começa por compartilhar a palavra escrita. Diz Novaes: “Ora, basta ver que todos os grandes poetas, a exemplo dos grandes pensadores, lidam com a mesma matéria e trabalham para o mesmo fim: poesia e pensamento são formas de interrogar o mundo, uma espécie de ‘ciência’ das coisas e do homem no mundo. Mais do que construir ideias, o poeta, como o filósofo, propõe matrizes de ideias a serem retomadas pelos leitores e todos os seus pósteros. Um poeta deve deixar vestígios de sua passagem, não provas, escreve o poeta René Char” (p. 10). O fato de que temos poetas que inspiram o grupo é um alento, e talvez, como propõe Novaes, cada um à sua maneira está fazendo exatamente isso no espaço virtual, propondo essas matrizes de ideias para os leitores. Que os próprios colaboradores se digam inspirados nos escritos dos demais é outra lição de humildade. Nossos artigos e ensaios são exatamente isso, os vestígios que deixamos por nossa passagem na terra, na visão de René Char.
Uma tribo muito diversa
Os temas das conversas variavam, mesmo que a poesia tenha sido colocada apenas no seu começo. A razão é que no grupo havia arquitetos, psicólogos, jornalistas e militantes dos movimentos sociais. Isso só pode acontecer porque a plataforma permite exatamente essa multiplicidade de colaboradores. Esta era uma questão que foi colocada para o debate: o papel da plataforma para cada um de nós. Como disse, para mim é um espaço para cultivar a paixão de escrever, como na definição de Gerard Lebrun em seu ensaio O Conceito de Paixão, incluído na coletânea de Novaes, em que o filósofo lembra que “paixão, para nós, é sinônimo de tendência – e mesmo de uma tendência bastante forte e duradoura para dominar a vida mental” (p. 17). Essa tendência ou força que domina a mente de nós, colaboradores, é a alegria de viver de que fala Alberoni, e talvez por isso eu atribua a ela a similaridade da experiência excepcional de quem vive e de quem está apaixonado por alguém. Assim como os enamorados não são diferentes das demais pessoas, aqueles que amam o que escrevem também não, apenas vivem a experiência inusitada de se tornarem especiais um para o outro por meio da escrita. Foi assim que vi a cena de ternura entre Lelei e Léo, esse ensinamento mútuo que um fez ao outro e que estava ali expresso num afeto de imensa grandeza.
Não se espera nada diferente de pessoas que construíram uma relação de amizade baseada na paixão de escrever. Aliás, a primeira pergunta que faz Francesco Alberoni em outra obra, A amizade (Rocco, 1999), é justamente “Existe ainda amizade no mundo contemporâneo?” Observando a experiência da nossa confraternização, sim, ainda que o mundo teime em afirmar o contrário. O mundo dos negócios é dominado pelas leis do mercado e da vantagem econômica: os colaboradores são voluntários, escrevem de graça; o mundo da política é um mundo de luta pelo poder; não há disputa alguma de cargos na plataforma porque ela não é uma instituição, é um espaço onde todos são livres e iguais para publicarem seus textos; sequer fazemos como Alberoni diz que fazem os italianos, de usar as relações de amizade para obter recomendações e vantagens, simplesmente porque o único poder que cada um tem é sobre sua caneta, digo, teclado, sua capacidade de escrever. Por isso diz Alberoni que a amizade terminou na sociedade em que as posições são atribuídas por favor e não por merecimento, como devem ser numa sociedade justa. Conhecemos isso da velha política brasileira.
A amizade em estado nascente
É claro que, mesmo aqui reunidos, as relações de amizade possuem níveis ou gradações. Aqueles que estão com Luiz Fernando desde a fundação da plataforma ou aqueles que são amigos de longa data e vieram para escrever têm uma relação mais consolidada. Isso é diferente daqueles que ingressaram no veículo recentemente ou que, como eu, participam pela primeira vez de um de seus encontros. Os encontros de coletivos de autores servem exatamente para isso: reforçar a identidade dos colaboradores com um projeto comum, mesmo sendo de níveis diferentes, pois, como diz Alberoni, “A amizade continua a ser um componente essencial da nova vida. Cinco séculos antes de Cristo e em uma tradição cultural totalmente diferente, como a chinesa, Confúcio enumerava cinco tipos fundamentais de relações interpessoais. A relação entre imperador e súdito, aquela entre pai e filho, a relação entre homem e mulher e aquela entre irmão maior e irmão menor. Todos esses quatro tipos de relação são hierárquicos, entre superior e inferior. Existe, porém, uma relação que não é hierárquica, mas ocorre entre iguais: é a amizade” (p. 6). O que é curioso é que, enquanto Alberoni vê inclusive a amizade presente na sociedade guerreira, numa espécie de fraternidade de armas, eu a vejo presente na sociedade de escritores que reunimos, uma espécie de fraternidade da caneta e do papel – ou melhor, de novo, do teclado e do computador – que faz com que haja em construção relações de amizade. “A palavra amizade não tem um único significado, mas vários” (p. 7), diz Alberoni. Há, pelo menos, desde Aristóteles, ao menos uma definição que identifica a verdadeira amizade: aquela que se baseia na virtude.
Para chegar a essa conclusão, Alberoni define os diversos significados da palavra “amizade”. O primeiro significado envolve o fato de que consideramos amigos aqueles que, na verdade, são apenas conhecidos; sabemos o que pensam ou sentem, recorremos a eles e mantemos boas relações, mas não uma profunda liberdade; não lhes falamos de nossos anseios mais secretos. Não, não vejo as relações entre os colaboradores da plataforma como apenas entre conhecidos; é mais do que isso. Na reunião falamos de nossos sentimentos secretos do ato de escrever. O segundo significado é o de solidariedade coletiva. “Amigos são todos aqueles que estão do nosso lado”, diz Alberoni (p. 8). Como os amigos de farda, somos amigos da plataforma unidos pela escrita, mesmo daqueles que “dele nada sei”, como diz o sociólogo. Muitos me conhecem pelos meus artigos, como Léo, que lembrava de minhas publicações de Opinião e Cultura em Zero Hora, mas a maioria me conheceu pessoalmente apenas ali, o que, como diz o sociólogo, revela que “estamos ainda, porém, na presença de liames coletivos, não de relacionamentos rigorosamente pessoais”.
O terceiro significado é o de relações de papéis sociais. A amizade que nos une como escritores é um vínculo que tem muito de afetivo, ao contrário das relações entre políticos ou negociantes, que dura enquanto a vantagem que um obtém do outro persiste. Nesse sentido, a relação de amizade entre os colunistas é semelhante à de colegas de trabalho ou vizinhos em uma casa, e talvez seja exatamente isso. O último significado estabelecido por Alberoni é o de simpatia e amistosidade, “categoria formada pelas pessoas com as quais nos sentimos bem, que nos são simpáticas, que admiramos”, diz. Ainda que Alberoni alerte para que tenhamos cuidado, já que “frequentemente trata-se de estados emotivos passageiros”, afinal, para alguns ali presentes era um encontro pela primeira vez, produto do encantamento de estar entre quem se admira – manifestei para Celso o quanto o invejava pela qualidade de sua escrita e imensidão de seu público, o que ele retribuiu com simpatia e humor dizendo que invejava o fato de eu estar aposentado e fazendo o que eu quero, ler e escrever, exatamente o que ele queria fazer. Rimos disso. Podia até ser passageiro, mas era sincero.
Amizade como altruísmo literário
Todas essas definições ainda não chegam ao cerne do que entende Alberoni sobre amizade. Ele parte da definição de J.M. Reisman diz que “amigo é aquele que gosta e que deseja fazer o bem a outro e acha que seus sentimentos são correspondidos”, o que dá primazia no conceito de amizade ao altruísmo e à sinceridade. Eu fiquei feliz que o sentimento altruísta prevaleceu entre os interessados em meu melhor livro, pois Léo pode levá-lo para sua mãe; eu fiquei feliz pela coragem de Lelei compartilhar as dificuldades que vive por sua condição, o nanismo, e sua aceitação e receptividade no grupo. Eu, é claro, não participei de todas as rodas de conversa o tempo inteiro; ao contrário, apenas de algumas. Alberoni diz que a definição de Reisman ecoa do pensamento de Santo Tomás de Aquino sobre o amor, em que ser amigo também “é querer fazer o outro feliz”.
Eu acho essa definição muito apropriada para o sentimento de amizade em estado nascente – outro termo surrupiado de Michel Maffesoli – entre nós, colaboradores. Ali, alguns são amigos pessoais, uns mais que outros; ali, houve a possibilidade de nascimento de novas amizades, como a minha com Cibele, que gentilmente me presenteou com seu livro: é isso que fazemos, olhamos ao redor e vemos com quem temos sintonia literária. A amizade nasce porque queremos, com nossas obras, fazer bem ao outro. Talvez por isso Alberoni considere importante o fato de que, para alguns autores, o enamoramento apresenta diferenças mínimas em relação à amizade, diferença que é pouco relevante. Talvez o abraço carinhoso do casal que me recebeu diga um pouco do afeto presente de que fala Alberoni, o de um certo amor materno e paterno, ou mesmo entre irmãos expresso no ato de receber. Você não abraça qualquer um. O que salta aos olhos é que, seja qual for a definição de amizade que queiramos colocar presente na confraternização, ela é sempre definida por não pretender qualquer interesse ou manipulação; é um tipo particular e límpido de sentimento: “A amizade tem muitas formas e muitos graus: vai desde um mínimo até um máximo de perfeição. A amizade pode ser pequena, apenas um movimento da alma, ou então grande, grandíssima” (p. 10).
Nessa confraria da escrita, seus colaboradores são amigos em estado nascente. Como amigos, mantêm uma reciprocidade afetuosa, simplesmente porque não se pode odiar um amigo, pois, quando isso acontece, a amizade terminou. Cada um apresenta a visão de sua história pessoal na esperança de que seja compartilhada e provoque identificação, como o sentimento daqueles que ali têm parentes em países em situação de conflito. Falamos de nossa relação com o mercado editorial, nem sempre feliz ou de sucesso. “Os dois amigos devem ter imagens recíprocas semelhantes”, diz Alberoni. Não que as carreiras na escrita sejam idênticas, mas a curiosidade em descobrir como cada um fez seu percurso é fundamental. Sou o servidor público aposentado que se dedicou à educação e à cultura e escreve por isso. E os demais?
Um lugar de encontro
Eles fazem parte de um novo grupo de amigos que resulta da nossa confraternização. A lógica desse funcionamento poderia ser de qualquer outro grupo ou coletivo. Ela começa superficial para uns e aprofunda a amizade de outros. Se os conhecidos de hoje irão realizar novas reuniões entre uns e outros, só o futuro dirá. Com a reunião, nós nos compreendemos melhor como pessoas que escrevem e que são colaboradores de uma plataforma. Pode ser que venhamos ou não a nos ajudar no futuro de alguma forma, mas isso não é importante. Mesmo que estas relações, frisa Alberoni, ainda não sejam a verdadeira amizade, naquele instante, entre os integrantes estava a sensação de sentimento de se sentir à vontade para expressar o melhor de nós mesmos. Temos simpatia por um ou outro e interesse pela escrita de um ou outro. Já nos conhecemos há algum tempo, mas a reunião possibilitou ver-nos de uma outra forma que a última reunião on-line não permitiu. “O encontro é sempre inesperado, revelador”, diz Alberoni.
A conclusão é que, mesmo no terrível mundo em que vivemos, há ainda espaço para a criação de uma centelha de amizade. Se desejamos criar alguma coisa, encontrar-nos-emos novamente no futuro para continuar o que começamos. “A amizade estabelece-se por meio de uma sucessão desses encontros, cada um dos quais retoma o anterior”, continua Alberoni (p. 14). Mesmo ficando um pouco mais, eu tive de sair antes de finalizar a reunião. Interrompi minha participação naquele encontro. Eu sei que posso retomar de diversos pontos as conversas interrompidas. E começar novas, principalmente. Por que o encontro foi tão importante? Porque foi um momento de autenticidade, de aparição de um sentido. Nela nos ordenamos, nos hierarquizamos, fizemos a síntese que nos completa com os demais. Mesmo durando pouco, foi um momento de partilha em que cada um foi o que realmente é. Sou grato a todos por isso.
Publicado originalmente Sler.
*Jorge Barcellos é graduado em História (IFCH/UFRGS) com Mestrado e Doutorado em Educação (PPGEDU/UFRGS). Entre 1997 e 2022 desenvolveu o projeto Educação para Cidadania da Câmara Municipal. É autor de 21 livros disponibilizados gratuitamente em seu site jorgebarcellos.pro.br. Servidor público aposentado, presta serviços de consultoria editorial e ação educativa para escolas e instituições. É casado com a socióloga Denise Barcellos e tem um filho, o advogado Eduardo Machado. http://lattes.cnpq.br/5729306431041524
Foto de capa: Sler Rede Social











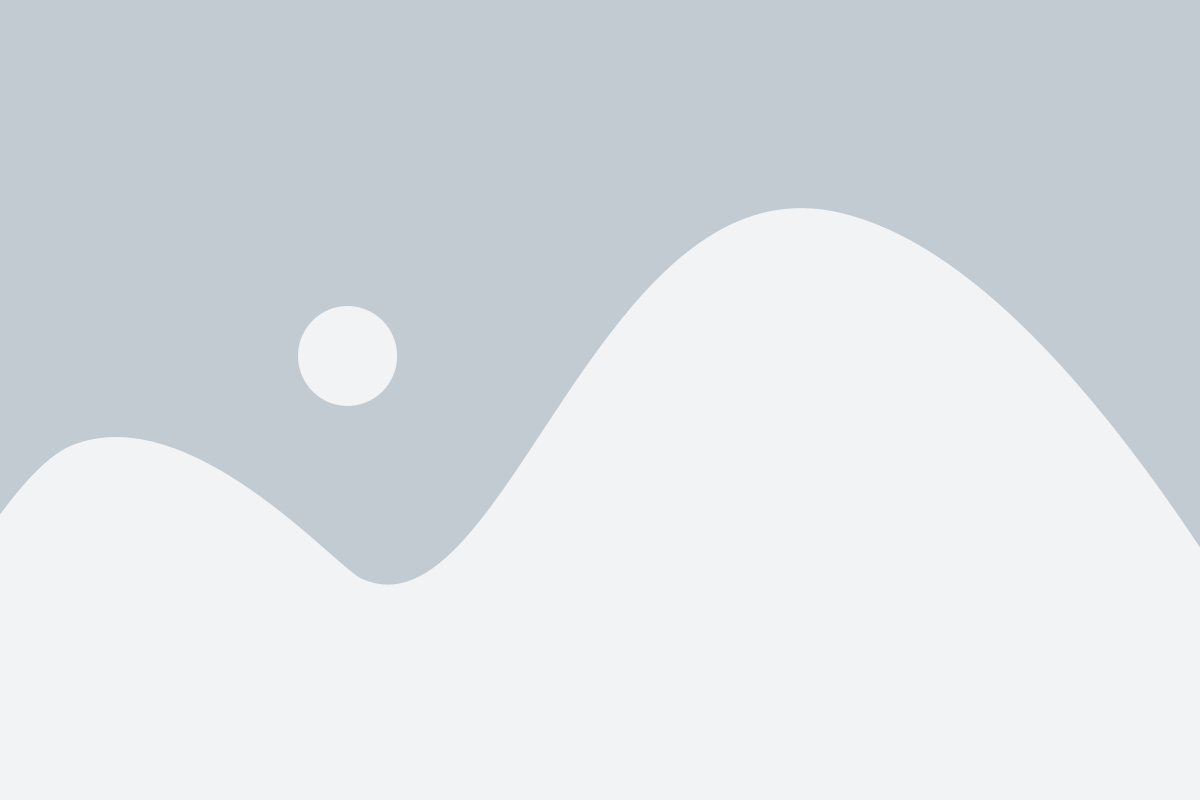


Uma resposta
Na minha família, ler é um prazer, uma viagem inigualável!! Dar e receber livros de presente faz parte das nossas vidas. E gostamos de livros de papel, tradicionais 😀