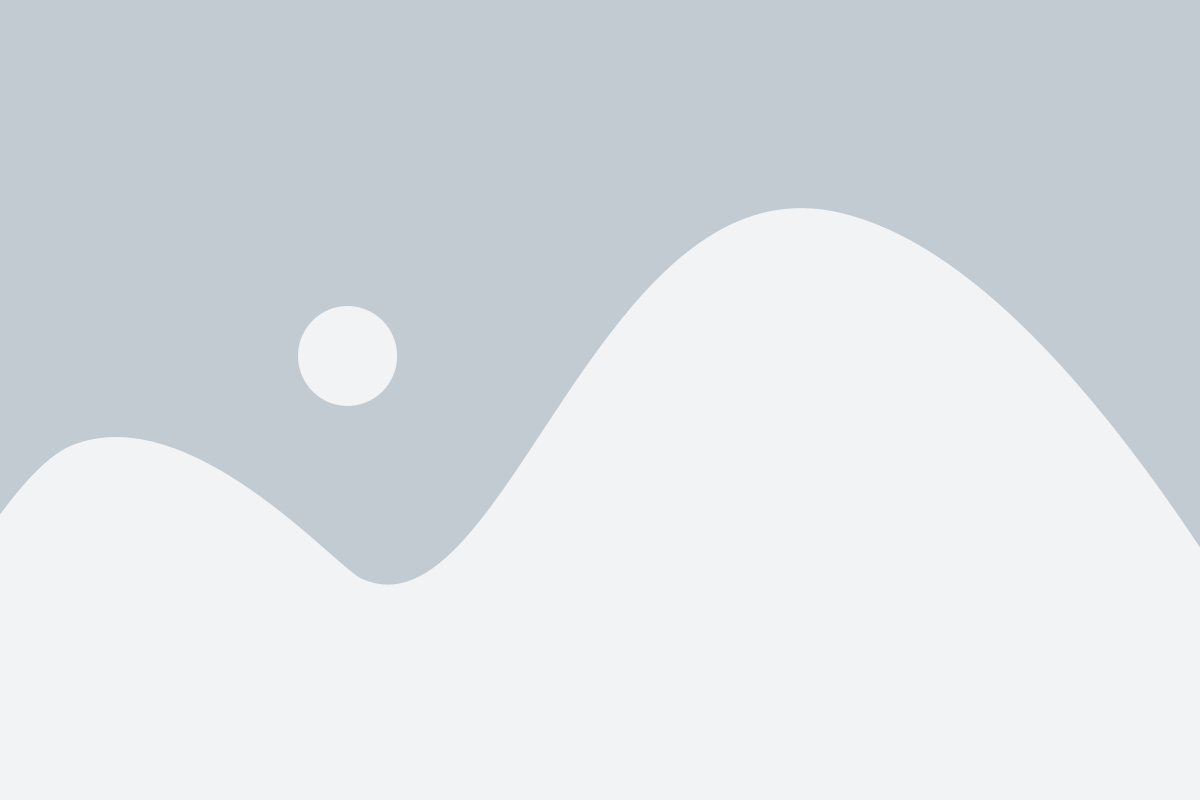Por CARLOS ÁGUEDO PAIVA*
Introdução
Uma das manifestações mais claras da baixa consolidação das Ciências Sociais quando comparadas com as Ciências Biológicas e Exatas encontra-se na instabilidade dos paradigmas nas humanidades. Um doutorando em Desenvolvimento regional, aluno do Curso de Economia Política que eu ministrava na UNISC, Engenheiro Civil e Administrador de Empresas por graduação, traduziu essa instabilidade de forma notável, dizendo:
Na Engenharia eles nos ensinam o que consideram ser o consenso teórico e prático consolidado. Na Administração, não passam 5 anos sem uma “revolução teórica”. E na Economia, vocês estão sempre descobrindo que Smith, ou Ricardo, ou Marx ou Keynes foram mal interpretados e que, na verdade, queriam dizer outra coisa. Há mais respeito pelo passado em Economia. Mas, de certa forma, vocês também estão sempre reinventando a roda, né?
Perfeito! As Ciências Sociais não são apenas pluriparadigmáticas. A característica mais marcante das soft sciences é que seus paradigmas são objeto de crítica e reconstrução permanente. Não importa se a crítica se pretende interna – como no caso do marxista que descobriu que todos tinham lido mal O Capital – ou externa – como no caso do pós-modernismo, que veio para desconstruir e calar todas as antigas musas teóricas. O que importa é que as Ciências Sociais estão em revolução permanente.
Em parte (e apenas em parte!) essa instabilidade teórica advém do fato de que o nosso objeto – a organização social – é móvel; e se move aceleradamente. Mais: para além do seu caráter histórico (cambiante), o objeto das Ciências Sociais – mesmo quando o tomamos de uma perspectiva sincrônica, quando abstraímos as mudanças – é de uma complexidade extraordinária. Pois os sistemas sociais são multi e reciprocamente determinados. O que, em última instância, significa dizer que não existeM CiênciaS SociaiS (no plural). O que existem são especializações na pesquisa e tratamento teórico de um mesmo objeto: a sociedade em transformação. Esse é “O” objeto “dA” Ciência Social. Só que esse objeto é tão grande que precisamos subdividi-lo, e criamos a Economia, a Sociologia, a Antropologia, a História, a Geografia, o Urbanismo, a Estética, a Psicologia, a Ciência Política, a Linguísticas, a Arqueologia, dentre outras tantas especializações. Muitas vezes, a pretensa “revolução permanente” é apenas a descoberta de algum elo que (re)aproxima a Economia da Sociologia, a Linguística da Psicologia, ou a História da Ciência Política. Na verdade, a Ciência das Sociedades Humanas é um jogo de quebra-cabeça que conta com um enorme conjunto de peças; e essas peças não são rigorosamente estáveis: elas mudam de forma e de conteúdo ao longo do tempo, de sorte que a figura que resulta da composição das peças, também se altera.
Entender essa peculiaridade do nosso objeto é essencial para que possamos redimensionar a nossa “instabilidade teórica”. Na verdade, as contribuições inovadoras são, como regra virtualmente universal, apenas novas peças colocadas no quebra-cabeça. Como as novas peças impõem deslocamentos das que já estavam em uso para a (re)construção do cenário, temos a impressão de que as mudanças foram maiores do que realmente foram. Mas o fato é que raramente esses deslocamentos envolvem negação efetiva das contribuições pretéritas. O que falta àqueles que confundem as contribuições inovadoras com a negação das contribuições anteriores é perspectiva de totalidade e tolerância com as contradições inerentes a sistemas complexos em transformação.
Ora, essa carência de totalização dialética tende a se manifestar de forma particularmente intensa naqueles autores que introduzem novas peças no grande quebra-cabeça da Ciência Social. Por quê? Porque as novas contribuições são fruto de um grande dispêndio de atenção (foco) e dedicação (trabalho) intelectual; de sorte que, normalmente, os responsáveis pelas novas contribuições tendem a sobrevalorizar sua expressão teórica, o espaço que ocupam no quadro geral e, por extensão, o grau de deslocamento que impõem às contribuições anteriores. E essa sobrevalorização do novo tende a alimentar polêmicas entre cientistas sociais tão falsas quanto improdutivas.
Esse me parece ser o caso da polêmica ainda em curso sobre a pertinência e atualidade das contribuições teóricas de Sergio Buarque de Holanda. Em especial duas categorias caras a Buarque de Holanda vem sendo objeto de críticas acerbas por parte da sociologia contemporânea: patrimonialismo e homem cordial. Da perspectiva de seus críticos, essas categorias sobredimensionariam e estruturalizariam traços culturais e elementos do sistema político nacional cuja existência, persistência e relevância são questionáveis. Por oposição, ao culturalismo e politicismo de Holanda, seus críticos buscam estruturar seus sistemas interpretativos sobre categorias econômico-materiais, com ênfase nas relações de trabalho e exploração: escravismo, assalariamento e acumulação. De forma explícita ou implícita, essa crítica “metodológica” pretende deitar suas raízes no materialismo marxista e se desdobra numa crítica utópico-normativa: a caracterização do Brasil como patrimonialista e do brasileiro típico como “movido pelo coração” viria associada à falsa pretensão de que o Brasil “ainda” não seria plenamente capitalista e a lógica política e de ação “ainda” não seria especificamente burguesa.
O Patrimonialismo Brasileiro
Poucos autores brasileiros se dedicaram tanto à defesa da cientificidade da Sociologia quanto Florestan Fernandes. No cerne de sua defesa da Sociologia Científica encontra-se exatamente um dos elementos que trouxemos à baila acima: ao contrário do que pretendem fundamentalistas de todos os credos, as grandes matrizes do pensamento sociológico – o funcionalismo (Durkheim), o estruturalismo (Levi-Strauss), a sociologia compreensiva (Weber) e o materialismo histórico e dialético (Marx) – não são antagônico, mas aportes distintos e compatibilizáveis do grande objeto social.
Igualmente bem, poucos autores se dedicaram tanto à análise do escravismo brasileiro e de seus desdobramentos contemporâneos no racismo estrutural e na rigidez da perversa estratificação social brasileira quanto Florestan Fernandes. E poucos autores deram tanta importância e atenção para os desafios oriundos da preservação da ordem patrimonialista no Brasil. Para Florestan, o erro não se encontra em tomar o escravismo OU o patrimonialismo como categorias estruturantes da análise. O erro está em pretender que elas sejam excludentes, reciprocamente antagônicas. Mais: ao contrário do que muitos pretendem, reconhecer a preservação de elementos patrimonialistas na ordem política nacional não envolve qualquer circunscrição da crítica social ao âmbito da defesa do desenvolvimento da ordem burguesa. Florestan era tanto um socialista militante, quanto um crítico ardoroso e contumaz do patrimonialismo brasileiro.
Da perspectiva dos críticos da categoria, a qualificação do Estado brasileiro como patrimonialista envolveria a pretensão de que ele “ainda” carrega traços pré-capitalista e mercantilistas, que ele “ainda” não seria um Estado especificamente moderno e burguês. E, de fato, é assim. O que nos coloca diante de uma contradição: o autor de A Revolução Burguesa no Brasil pretenderia que essa “Revolução” não teria se completado integralmente no país. Por quê? Analisemos a questão a partir de seus fundamentos.
Como se sabe, a categoria patrimonialismo ocupa um lugar central na obra de Weber. A despeito do termo em si não emergir em Weber, o sentido que atribuímos, hoje, à categoria é aquele consagrado pelo autor. O problema é que esse sentido não é único. Em seu sentido mais amplo e geral, o patrimonialismo é a indistinção relativa das esferas pública e privada, vale dizer, do Estado e da Sociedade Civil. Mas, se é assim, qualquer sociedade pré-capitalista é, de alguma forma, patrimonialista. De fato! E é por isso mesmo que existem diversos “patrimonialismos” em Weber: patriarcal, feudal, estamental etc.. E há todo uma zona de “limbo” entre formas de dominação carismática e tradicional (como no sultanato, por exemplo) que também carrega elementos de patrimonialismo, na medida em que a distinção entre o patrimônio do líder (o sultão), o patrimônio do Estado (o Tesouro), o patrimônio da Igreja (que é parte do Estado, no Islã) e, até mesmo, o patrimônio dos particulares é tênue, é vaga, é flutuante. Na verdade, é como se a diferenciação dos “tipos” de patrimonialismo cumprisse, em Weber, uma função similar à diferenciação dos modos de produção pré-capitalistas em Marx.
Temos de reconhecer, então, que a categoria “patrimonialismo” comporta uma dimensão de “atraso”, de “ainda não especificamente burguês”. E que essa dimensão está presente em Weber e em Holanda; bem como em todos os autores que caracterizaram o sistema político brasileiro como patrimonialista (em especial, Faoro e Florestan). A questão que se impõe, então é: o que define o Estado NÃO-Patrimonialista? Ou, ainda: o que é o “Estado Burguês Moderno”? E qual a sua existência concreta, real?
Como regra geral, aqueles que criticam a categoria “patrimonialista” também pretendem que o “Estado Plenamente Burguês” de Weber seria um tipo ideal, uma mera construção teórica sem correspondência efetiva e concreta com qualquer Estado Capitalista real. E, mais uma vez, essa crítica não está integralmente equivocada. Só que ela não diz exatamente aquilo que os críticos de Holanda (e Faoro, e Florestan) pretendem que ela diga. Tal como Florestan procurou nos ensinar, toda a sociologia teórica opera com “tipos”. A diferença crucial entres as tipologias de Durkheim, Weber e Marx é que o primeiro opera com “tipos médios”, o segundo, com “tipos ideais” e o terceiro com “tipos extremos”. Em seus textos dos anos 40 do século XIX, Marx procura demonstrar o caráter pré-capitalista do Estado Prussiano tomando por referência empírica os Estados Unidos, a Inglaterra ou a França. Mas Marx nunca pretendeu identificar o Estado escravocrata dos EUA, a monarquia inglesa ou o Estado francês da Restauração com o “tipo ideal-extremo” de Estado Burguês.
O que escapa àqueles que exigem existência empírica plenamente desenvolvida de uma construção teórica – como o Estado Burguês Nacionalem Marx ou Weber – é que essa construção é um produto da História; é uma construção que nasce em determinados territórios, em determinadas épocas e que comporta dimensões utópicas e ideológicas promotoras de ações e transformações. Sua concreticidade, sua efetividade, encontra-se nas transformações materiais que essa “ideia” promove.
Ora, essa construção utópico-ideológica organizou e solidarizou os agentes sociais responsáveis pelas três grandes revoluções burguesas do mundo: a Inglesa, a Norte-americana e a Francesa. E esses três países foram os primeiros a ingressar na ordem capitalista industrial; vale dizer, naquele padrão de produção mercantil em que o progresso técnico permanente e a simplificação do trabalho estruturalizam a extração de mais-valia relativa e permitem que o capital passe a “andar com as próprias pernas”. Em suma: esses quatro componentes – utopia liberal, revoluções burguesas clássicas, (projeto de) Estado Burguês e transição para o capitalismo industrial – emergiram nos mesmos países ao mesmo tempo e são partes de um mesmo todo.
O fato dos Estados burgueses norte-americano, inglês e francês jamais terem correspondido perfeitamente ao projeto que lhes deu origem, não retira efetividade e concretude dessa construção. Na verdade, ela contagiou o mundo, que seguiu os passos de Inglaterra, EUA e França. Desde os “primeiros retardatários” – Alemanha, Japão, Rússia – aos mais recentes – Coreia, Taiwan e China. Mais: o “atraso” relativo de todos esses países imporá peculiaridades aos seus processos de transição. Desde logo, elas serão marcadas por uma participação maior e mais ativa do Estado do Ancien Régime; do Estado que ainda carregava traços patrimonialistas. Porém, essa contribuição do “velho para o novo” não congelava o passado: os resquícios patrimonialistas foram sendo expurgados nesses países ao longo de um sem-número de conflitos internos (civis) e externos (guerras mundiais) ao longo do século XX.
O caso do Brasil é ainda mais complexo. Nossa transição para o capitalismo foi mais que retardatário – foi tardio! – e se processou no interior de um padrão de ajustamento marcado pela conciliação e preservação do passado. O resultado é que sempre há muito de “passado em nossos presentes”. Ou não?
Há quem negue a leitura acima. Na verdade, há quem defenda a tese de que o Brasil já nasceu capitalista. Da perspectiva de Holanda, Faoro e Fernandes essa pretensão é absurda. Afinal, o capitalismo é o sistema em que tudo o que é sólido se desmancha no ar. Entre 1530 e 1930, a tecnologia de produção de açúcar no Brasil manteve-se essencialmente inalterada, e sua base era o Engenho. Como pretender que seja capitalista um território marcado por quatro séculos de estagnação técnico-produtiva?
Na verdade, enquanto país, enquanto nação, só entramos efetivamente na era do capital – e, por extensão, na Era do Estado Burguês – a partir de 1930. Mas este ingresso deu-se em ritmo de bolero, na linha: são dois prá lá, dois prá cá. De 1930 a 2025, a cada dois passos de avanço em direção à industrialização soberana, demos outros dois passos no resgate da inserção semicolonial, enquanto meros produtores e exportadores de commodities agrícolas e minerais. … Estou exagerando? Será mesmo?
A Lava-Jato foi estruturada dentro do sistema jurídico nacional conquistado com a Nova República e a Constituição Cidadã. Sabemos bem que os processos da Lava-Jato foram eivados de ilegalidades. Mas, o que importa, é que essas ilegalidades foram sancionadas (ou, no mínimo, toleradas) pelas instâncias superiores do Judiciário e do Ministério Público Federal. E o impacto econômico negativo da Lava-Jato foi enorme. Ela abalou a confiança jurídica no país e deprimiu a rentabilidade, o patrimônio e a competitividade de alguns dos maiores grupos empresariais nacionais. Ela desestruturou (ou, pelo menos, tentou desestruturar) uma das nossas mais importantes e dinâmicas cadeias industriais com núcleos nas engenharias mecânica e naval e na petroquímica. O que levou – dentre outros desdobramentos – à desestruturação do projeto de construção do submarino atômico brasileiro.
A Lava-Jato foi uma operação desindustrializante e antinacional. E, simultaneamente, foi uma ação orquestrada e realizada a partir do Estado. Mais: a Lava-Jato não dá início ao lawfare no Brasil do século XXI. Ela apenas seguiu os passos do Mensalão, instaurado pela Suprema Corte do país. A Lava-Jato apenas leva o lawfare mais longe e alcança dar sustentação político-ideológica àquele movimento de “combate à corrupção” que levou ao impeachment de Dilma (votado pelo Congresso, com anuência do STF), à prisão e silenciamento de Lula e, por extensão, que deu sustentação aos governos privatistas e antinacionalistas de Temer e Bolsonaro.
Pergunto: podemos chamar de “especificamente burguês-nacional” um Estado que promove – pelo Judiciário, mas com a conivência de todos os demais poderes, inclusive da imprensa – a desestruturação econômica do país e a depressão de sua soberania e autonomia tecnológica? É assim que agem os Deep States” dos EUA, da UE, do Japão, da Coréia, de Taiwan, da Rússia ou da China? … Evidentemente, não.
A peculiaridade do Estado brasileiro não se encontra nas relações de intimidade (e, até, de promiscuidade) entre o público e o privado. Isso há em toda a parte. Assim como é universal o padrão de avaliação e apoio aos grupos capitalistas: quanto maior, melhor. Essa máxima sequer é objeto de ocultação ideológica: há empresas que são grandes demais para falir. PT, saudações. Isso é quase universal. No Brasil, só vige até a quinta linha (ou coluna).
Nossa peculiaridade encontra-se no fato do Estado poder ser mobilizado para desestruturar o grande capital nacional, empresas públicas estratégicas e projetos voltados à promoção da soberania tecnológica, industrial e militar. Essa é a nossa “jabuticaba”; esse é o nosso “patrimonialismo”; essa é a expressão mais simples do nosso “atraso”.
Alguns poderiam pretender que os abalos impostos pelo lawfare lava-jatista incidiram sobre uma parcela específica do capital nacional. Médio B. Houve prisões de grandes empresários em todos os setores, de André Esteves a Joesley Batista. Eles só não foram tão pressionados quanto aqueles de quem se exigia a “delação premiada correta” para atingir Lula e o PT. Além disso, a parcela da burguesia que foi mais afetada pelo lava-jatismo não é uma parcela qualquer. Tratava-se do segmento produtivo-industrial de maior poder competitivo internacional e que se encontrava comprometido com importantes projetos voltados ao aprofundamento e consolidação da soberania nacional. … “Só” isso.
Pergunto: qual foi o critério utilizado para selecionar esse segmento? Sabemos todos que a ditadura promoveu de forma quase acintosa a indústria da construção civil, a petroquímica, os setores produtores de máquinas e equipamentos e a indústria naval. Não há, pois, como pretender que o direcionamento dos ataques do lava-jatismo esteja fundado em qualquer oposição conservadora ao setor. O problema é outra ordem. E ele começa pelo PT e termina no Pré-Sal. As empresas punidas faziam parte do projeto de desenvolvimento industrial dos governos petistas; e o PT é um partido inconveniente (logo veremos o porquê). Seja internamente, seja externamente. Nem “nós”, nem os EUA, estávamos dispostos a tolerar esse projeto. E quem é (ou somos) esse “nós”? A elite econômica brasileira em geral, que acredita (e age como se) o Estado Brasileiro fosse seu patrimônio. E a elite do funcionalismo público (juízes, promotores, militares de alta patente etc.) faz parte da elite econômica nacional e comunga da tese plutocrática: o Estado é de alguns; não de todos.
A aversão da elite econômica ao PT não se deve propriamente ao fato dele ser “socialista”. Esse é apenas o horizonte utópico-ideológico do PT. Seus governos não são socialistas. Ele faz – ou tenta fazer – um governo estritamente burguês. De certa forma, podemos dizer que o PT realmente existente, o PT governante, trabalha pela plena constituição do Estado Burguês Nacional; um Estado que zela: 1) pelos interesses do capital em geral, hierarquizado por estrato de tamanho e capacidade competitiva; 2) pela soberania nacional; 3) pela universalidade dos direitos civis e isonomia na aplicação das leis.
A luta dos PT é exatamente pela consolidação do Estado Burguês. A questão é: por que ainda precisamos lutar, hoje, por palavras de ordem das revoluções burguesas do século XVIII? Porque o patrimonialismo ainda resiste entre nós. E, para o estrato social beneficiado por essa ordem, o projeto petista de universalização de direitos e democratização do Estado é mais do que liberal: é comunista! Afinal, o PT quer distribuir igualmente entre todos o acesso a uma estrutura que é propriedade privada de alguns!
Se não entendermos esse ponto, não entenderemos as fissuras (atuais e potenciais) no interior da elite. … E fica impossível construir um Bloco Histórico com o conjunto dos agentes que se beneficiariam da consolidação da ordem democrática e produtivo-industrial burguesa no Brasil.
O homem cordial
A incompreensão dessa segunda categoria tem uma base muito simples: o que entendemos por “cordial” hoje, é muito diferente daquele que foi o sentido original do termo. A palavra cordial é a tradução portuguesa do latim cordialis que significa: o que vem do coração (cor). Nesse sentido original, o homem cordial é aquele que se deixa levar pelos sentimentos. E não só pelos sentimentos positivos, que associamos, hoje, à palavra “cordial”: polidez, elegância, respeito às diferenças, tratamento isonômico. Mas, também, pelos sentimentos, paixões e desejos socialmente inválidos ou inconvenientes. O homem cordial em sentido original deixa-se levar por todo o coração. Inclusive pelo que ele tem de volúvel, impulsivo e perverso. É nesse sentido original – vale dizer, chic et démodé – que Buarque de Holanda usa a categoria. Para ele, o homem cordial ibérico não é, nem melhor, nem pior, que o homem calvinista-utilitarista anglo-saxão. Ele é, apenas, outro. Um outro que mede tudo pelo sentimento e que é refratário a julgamentos isentos, e isonômicos.
Nesse sentido, o nosso Judiciário é extraordinariamente “cordial”. E sua cordialidade é a mesma de toda a elite patrimonialista nacional: nossos juízes e promotores tratam os iguais, como iguais; e os desiguais, como desiguais. Ao julgar os iguais, eles são garantistas. Ao julgar os desiguais, tornam-se punitivistas. O Mensalão e a Lava-Jato foram duas operações jurídicas de enorme “cordialidade”.
Mas há um elemento a mais nessa categoria em Holanda, que aponta para algumas diferenças entre o padrão espanhol e português de “cordialidade ibérica”. A cordialidade espanhola é marcada por tradicionalismo. O coração (e os sentimentos) do espanhol são prenhes de fidalguia, honra e catolicismo. Vale dizer, as decisões “de coração” (porquanto não estritamente racionais) tem um forte componente de respeito ao que “deve ser feito”, mesmo que venha em meu prejuízo pessoal. A cordialidade lusitana é mais fluída e menos hierarquizada no plano formal e aparencial. Em seus textos sobre Portugal, Fernando Pessoa traduziu essas diferenças nos seguintes termos:
Sendo nós portugueses, convém saber o que é que somos.
a) adaptabilidade, que no mental dá a instabilidade, e, portanto, a diversificação do indivíduo dentro de si mesmo. O bom português é várias pessoas.
b) a predominância da emoção sobre a paixão. Somos ternos e pouco intensos, ao contrário dos espanhóis — nossos absolutos contrários — que são apaixonados e frios.
Nunca me sinto tão portuguesmente eu como quando me sinto diferente de mim — Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, e quantos mais haja havidos ou por haver.
Nossa cordialidade fluída gera adaptabilidade (que é um elemento positivo, construtivo); mas também gera instabilidade (um elemento negativo). No limite, ela se resolve numa espécie de “esquizofrenia positiva”. Eu sou um e eu sou vários. O que tem desdobramentos político-institucionais.
Eu não apenas julgo os “iguais a mim” de forma diferente que julgo “os outros”. Meu julgamento também é volátil em outro sentido. Não se trata apenas de eu ser legalista quando convém aos amigos e punitivista quando convém aos inimigos. O homem cordial brasileiro muda, de fato, de sentimento e julgamento de acordo com o lugar. Seu julgamento efetivo flutua quando ele está num grupo ou em outro. Não são poucos nem raros os membros da elite econômica nacional que mantém vínculos sociais cotidianos (que, por vezes se desenvolvem em camaradagem real) com pessoas de estratificação social muito distinta. Afinal, esse é o país da miscigenação, do carnaval, do boteco, do sincretismo religioso e do paternalismo. E acrescenta Fernando Pessoa, de uma certa dissociação inconsciente: somos múltiplos quase que “naturalmente”.
Esse misto de adaptabilidade-instabilidade-esquizofrenia se expressa em um padrão único de configuração dos campos político-ideológico-utópicos. É muito mais fácil para um brasileiro ser evangélico neopentecostal e narcotraficante do que para um anglo-saxão. Essa composição é muito estranha, seja no plano lógico, seja no plano ético, para os indivíduos de sociedades racionalistas. Mas, essa combinação é tão corriqueira no Brasil que, hoje, a facção criminosa que mais cresce no país – o Terceiro Comando Puro (também conhecido como “Estado de Israel”) – se apresenta como evangélica.
Qual a importância disso para pensarmos a estrutura e a conjuntura política brasileira? Enorme! Dado o caráter peculiar – caleidoscópico, diversificado e inconstante – das construções político-utópico-ideológicas no Brasil, elas se mostram muito mais diversificadas e muito menos estáveis do que em sistemas culturais mais apegados à consistência e à lógica. Os subsistemas político-utópico-ideológicos são fluídos e voláteis em nosso país. Se não alcançamos entender esse ponto, não alcançamos entender a difusão do conservadorismo político (e, no limite, do fascismo) entre a juventude e os estratos sociais mais baixos da pirâmide social. Donde saem tantos jovens e tantos pobres “de direita”?
A resposta não é simples. Ela é compósita. São muitas as determinações desse fenômeno. Mas há uma determinação importante, que, do meu ponto de vista, escapa a boa parte da esquerda intelectualizada que busca entender o Brasil: o brasileiro não é particularmente apegado ao princípio da não-contradição.
Assistimos diariamente à dimensão negativa desse desapego à lógica formal. Ela está presente, por exemplo, na facilidade com que fakenews totalmente inverossímeis são aceitas como verdade e amplamente reproduzidas. E também é ela que embasa a defesa peculiar (e, no limite, absurda) da “meritocracia” que grassa entre conservadores brasileiros. De uma perspectiva calvinista, só é meritocrata aquele que ascendeu socialmente pelo trabalho. No Brasil é distinto; não há mérito no trabalho; uma atividade de pobres e pretos. E não há mérito maior do que ser “fidalgo”, ser rico por herança. Como costumava dizer um ex-aluno (sem qualquer intenção jocosa!): Modéstia à parte, eu sou rico! No Brasil do homem cordial, ser malandro, esperto, levar vantagem em tudo, nascer rico e viver sem trabalhar é mérito. Ser ladrão, corrupto ou vagabundo é que é demérito. E como diferenciamos o malandro do corrupto, o rico ocioso do vagabundo? Simples: os socialistas, os petistas, são ladrões. Nós somos meritocratas.
Mas isso não é tudo. Não há só negatividade nesse padrão de (des)estruturação mental. Há um lado positivo na nossa tolerância à contradição que escapa a boa parte dos teóricos da política brasileira. E que só alcança a ser intuído pelos praticantes da política nacional: assim como um narcotraficante pode ser evangélico, ele também pode ser bolsonarista, tucano ou petista.
Não se trata de pretender que os jogos combinatórios sejam aleatórios. Não se trata de romper com a pretensão da Sociologia e da Ciência Política dominantes de que o “conjuntos das possíveis combinações utópico-ideológicas” é limitado. Nem de negar que o maniqueísmo do fundamentalismo religioso é mais consistente com o conservadorismo e com o bolsonarismo do que com o projeto civilizatório iluminista e socialista. Trata-se apenas de chamar a atenção para o fato de que, no Brasil, o “jogo de combinações possíveis” é maior do que o “normal”. E, aqui, o ponto realmente central.
A flexibilidade e a tolerância com a contradição que caracterizam o “homem sentimental e a-racional brasileiro” se desdobra numa conclusão muito relevante para a disputa política no Brasil contemporâneo: não há estratos, segmentos, classes, grupamentos sociais, culturais e identitários rigorosamente impermeáveis ao discurso projeto de plena consolidação do ordenamento burguês no país. As palavras de ordem de 1) defesa do capital em geral (hierarquizado por critérios de tamanho e de origem nacional ou externa); 2) defesa da soberania nacional, e, 3) defesa de um Estado isonômico (por oposição a um Estado Patrimonialista); podem encontrar apoio em todo e qualquer segmento social e cultural no país.
Ora, como tentei demonstrar acima, o projeto efetivo e realmente operante do PT no Brasil contemporâneo é exatamente este: concluir a Revolução Burguesa nacional. Essa era exatamente a leitura de Florestan Fernandes dos desafios abertos pela crise da ditadura. Em seu livro maior – A Revolução Burguesa no Brasil – ele busca explicar que a transição “pelo alto” foi concluída com o advento da ditadura. Mas essa conclusão não era estável: ela dependia da monopolização dos aparelhos de Estado pela elite econômica. A questão de Florestan era: como a burguesia responderia à retomada das liberdades democrática, que levaria à conquista do Executivo por partidos de base popular-operária?
A resposta foi articulada por FHC. Ele “amenorzou” o Poder Executivo ao máximo, através das privatizações e de um conjunto de emendas constitucionais que deram as bases para o “Presidencialismo de Coalização” e a “Judicialização da Política”. Nesse processo, o patrimonialismo mudou de face. Mas não morreu. Os cordéis do poder não estão mais sob controle do Executivo. As joias da coroa foram privatizadas, criando uma nova “burguesia de estufa”. E os Poderes Legislativo e Judiciário controlam e cerceiam os movimentos do Executivo em prol da democratização do Estado, do desenvolvimento industrial e da consolidação da soberania nacional.
Não obstante, a disputa continua em curso. E vem se tornando cada vez mais transparente. Mais: as “trincheiras” dessa batalha não se encontram estagnadas e os contendores vem ganhando e perdendo posições no tempo. Deu-se um deslocamento do Judiciário (ou parte dele) para o campo “da esquerda”, vale dizer, da defesa da ordem democrático burguesa. E houve um amplo deslocamento do Legislativo para o campo conservador e golpista. A inflexão na mídia é mais sutil e inconclusa. Mas houve uma aproximação do campo democrático. A “conversão” de Reinaldo de Azevedo é quase milagrosa. Mas, ainda que com intensidade menor, emergem sinais de respeito e diálogo em veículos midiáticos que, há poucos anos, publicavam todos os dias a mesma manchete: “Mais um escândalo de corrupção do PT Ladrão”.
Mas é preciso cautela: não podemos, nem devemos, sobrestimar o papel da mídia como “formadora de opinião”. Os mesmos setores que aplaudiam as denúncias cotidianas da Rede Globo sobre a “corrupção petista” classificam as eventuais críticas aos (des)governo Bolsonaro como mentiras e falsificações grosseiras. No Brasil, a disputa pela conquista dos corações e das mentes do “zé povinho” tem que ir além da mídia. É preciso “descer dos tamancos” e reaprender a dialogar com aqueles que pensam diferentemente de nós.
Falta à esquerda democrática, radicalmente avessa ao patrimonialismo, a adequada compreensão do caráter plástico e “macunaímico” da cultura política popular. De certa forma, a falta de rigidez lógica do brasileiro “comum”, é compensada pela rigidez moral e intelectual do típico “intelectual de esquerda”, sempre disposto a identificar e cancelar os réprobos. Não por faltar “brasilidade cordial” a este último. Pelo contrário: ao se erigir como “O Outro” do homo vulgaris, o brasileiro bem pensante apenas resgata, de forma radicalizada, a dimensão personalista, excludente e pretensamente meritocrática e fidalga de nossa busca compulsiva de diferenciação e individuação.
Conclusão
Iniciamos esse texto afirmando que as Ciências Sociais revelam sua imaturidade pela revolução permanente de seus referenciais teóricos e paradigmáticos. Há determinações estruturais para essa instabilidade, mas – vemos agora – elas são exacerbadas no Brasil. Entre nós, a sobrevalorização do caráter disruptivo de contribuições inovadoras é exponenciada pelo personalismo que campeia solto e invade os meios intelectuais Tupis. A intelectualidade bem pensante brasileira não alcança saudar o novo sem desfazer de tudo o que veio antes. Se somarmos essa compulsão iconoclasta e novidadeira ao desprezo arrogante das referências políticas, teóricas e estéticas do populacho temos o caldo de cultura onde viceja o “pobre de direita”.
Mas que se entenda bem: as determinações da emergência do “pobre de direita” são outras, de ordem material e global. A semente nasceu alhures. O caldo de cultura apenas acelera sua multiplicação e crescimento. Um dos componentes desse caldo de cultura são as redes sociais e de seus algoritmos politicamente orientados. Mas há um elemento especificamente nacional na estabilidade relativa do apelo político-eleitoral da ultradireita. E esse elemento passa pela opção discursiva – professoral, arrogante, personalista, fidalga, segregadora e desrespeitosa – de parcela expressiva da esquerda, que parece incapaz de dialogar com o populacho sem apontar e corrigir seus “vícios de linguagem e pensamento”, reveladores de misoginia, homofobia, xenofobia, racismo, punitivismo, conservadorismo, fascismo, bolsonarismo dentre tantos outros ismos politicamente incorretos e inadequados às pessoas de fino trato.
Posso estar enganado, mas creio que Carmen Mayrink Veiga, Ibrahim Sued e Celia Ribeiro seriam muito menos críticos e muito mais tolerantes com os “maus modos da plebe ignara” do que 9 entre 10 militantes da esquerda brasileira contemporânea. E não só por ser contemporânea. Acima de tudo, por ser brasileira e, portanto, ciosa de sua superioridade intelectual e moral. Assim como o populacho, a esquerda em geral, e a intelectualidade de esquerda em particular, deita suas Raízes no Brasil.
*Carlos Águedo Paiva é Economista, Doutor em Economia e Diretor da Paradoxo Consultoria Econômica.
Foto de capa: IA