Por ANDRÉ MOREIRA CUNHA E LUIZA PERUFFO*
A Libertação de Trump e as Novas Regras do Jogo
As duas Grandes Guerras Mundiais e a Crise de 1929 culminaram com o ocaso europeu e o estabelecimento dos Estados Unidos (EUA) no centro do poder global. Nixon, ao desatrelar o dólar do outro, enterrou o pilar central do Acordo de Bretton Woods. A queda do Muro de Berlim e o desmonte da União Soviética decretaram o fim da Guerra Fria, abrindo caminho para a consolidação da “hiperglobalização”, com seu matiz neoliberal, e criando a expectativa de que o mundo experimentaria um “Novo Século Americano”. Agora, o “choque Trump” pode ter o condão de redefinir novas regras do comércio, além de afetar a segurança, os investimentos e a estruturação do sistema monetário e financeiro internacional.
Com a ascensão dos países emergentes, particularmente a China, e após dois choques profundos, a Crise Financeira de 2007-2009, e a pandemia da Covid-19, o establishment estadunidense se viu forçado a lidar com uma crescente perda de controle sobre os destinos da política e da economia no século XXI. Desde a primeira administração Trump (2017-2021), com continuidade no governo Biden (2021-2025), a reação a essa nova realidade tem-se dado por meio de medidas voltadas ao estímulo da indústria de transformação, à renovação da infraestrutura e à tentativa de contenção da concorrência chinesa na disputa pelo domínio das tecnologias portadoras de futuro.
Nos documentos que nortearam a política de segurança em seu primeiro mandato (National Security Strategy, 2017) e seu posicionamento diante da ascensão chinesa (United States Strategic Approach to the People’s Republic of China, 2021), Trump foi particularmente explícito ao criticar o multilateralismo aberto (“globalismo”) engendrado pelo seu próprio país desde o final da Segunda Guerra Mundial. Revelou sua disposição para implodir o status quo do sistema internacional.
Um passo ainda mais contundente na direção desse redesenho das regras globais do “jogo das trocas”, para usar a expressão de Braudel, foi dado no dia 02 de abril de 2025, quando a administração Trump 2.0 anunciou uma elevação em 10% nas tarifas de importação sobre todos os produtos importados pelo país, bem como tarifas adicionais sobre países com os quais a economia estadunidense apresenta déficits comerciais elevados. Para sustentar legalmente tais medidas, Trump declarou “emergência nacional” com base na legislação aprovada em 1977, durante a administração Jimmy Carter (1977-1981) – International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e na longa tradição de medidas legislativas voltadas ao enfrentamento de “inimigos externos”, particularmente a Trading with the Enemy Act (TWEA, 1917).
A IEEPA confere poderes ao chefe do Executivo para “… lidar com qualquer ameaça incomum e extraordinária, que tenha sua origem total ou substancial fora dos Estados Unidos, à segurança nacional, à política externa ou à economia … se o Presidente declarar uma emergência nacional com relação a tal ameaça.” (50 U.S.C. §1702). Sua origem está na tradição de ampliar o poder de intervenção do governo central sobre as liberdades de comércio e investimentos, mobilidade de pessoas e políticas econômicas domésticas em várias áreas.
Assim, por exemplo, em 1917 foi aprovada a “Trading with the Enemy Act (TWEA)”, que foi invocada e expandida, pelo Congresso Nacional, em distintos governos posteriores e com variadas finalidades, como no enfrentamento da Grande Depressão e no esforço de guerra, durante a administração F.D. Roosevelt (1933-1945). No contexto da Guerra Fria, Harry S. Truman (1945-1953) impôs sanções comerciais a países inimigos (Cuba, Vietnã, Camboja) e manteve várias medidas restritivas ao mercado de câmbio, investimentos e pagamentos internacionais, criadas no começo dos anos 1930, com base na TWEA.
Richard M. Nixon (1969-1974) e Gerald R. Ford (1974-1977) justificaram o uso de controles de exportações com aa TWEA. Dwight D. Eisenhower (1953-1961) e John F. Kennedy (1961-1963) usaram a mesma base legal e a emergência nacional declarada pelo presidente Roosevelt, em 1933, para manter e modificar as regulamentações que controlavam a acumulação e a exportação de ouro. Lyndon B. Johnson (1963-1969) buscou estabilizar o balanço de pagamentos do país, depois da desvalorização da libra esterlina, por meio de limitações do investimento estrangeiro direto por empresas dos EUA.
Ao acabar com um dos pilares do Acordo de Bretton Woods, eliminando a conversibilidade do dólar em outro, em 1971, a administração Nixon usou a Seção 5(b) da TWEA para declarar estado de emergência e aplicar um imposto suplementar ad valorem de 10% sobre todos os bens tributáveis que entrassem nos Estados Unidos. Em 2025, Trump justifica a emergência nacional a partir do “… grande e persistente déficit comercial causado pela ausência de reciprocidade em nossas relações comerciais e outras políticas prejudiciais, como manipulação de moeda e impostos exorbitantes sobre valor agregado (IVA), perpetuados por outros países.”.
“Meus compatriotas americanos, hoje é o Dia da Libertação … déficits comerciais crônicos não são mais meramente um problema econômico. Eles são uma emergência nacional que ameaça nossa segurança e modo de vida … Durante décadas, o nosso país foi pilhado, violado e saqueado por nações próximas e distantes, tanto amigas como inimigas.”
A administração Trump aponta as seguintes evidências sobre tal caráter emergencial: o déficit comercial de US$ 1,2 trilhão em 2024; a queda na participação da produção industrial estadunidense no total global, de 28,4% (2011) para 17,4% (2023); a perda de cinco milhões de postos de trabalho na indústria entre 1997 e 2024; pirataria e roubo de tecnologia de empresas estadunidenses, com custos estimados entre US$ 225 bilhões e US$ 600 bilhões; impostos “excessivos” cobrados por governos estrangeiros sobre empresas estadunidenses na ordem de US$ 200 bilhões; “vulnerabilidade” de cadeias de fornecimento de insumos e de produtos finais, tanto para as Forças Armadas, quando para a saúde pública, em referência à crise provocada pela pandemia da Covid-19; dentre outras.
Para a perplexidade de economistas, investidores e analistas da mídia especializada, Trump rasgou o manual do livre-comércio, com sua defesa de medidas protecionistas amplas e estruturais. No mesmo golpe, desmontou a tese de que seu país deveria exercer a função de “estabilizador hegemônico”, conforme sugerido por Charles Kindleberger no clássico “The World in Depression, 1929-1939”. Na justificativa da nova política comercial, lê-se que: “O acesso ao mercado americano é um privilégio, não um direito. Os Estados Unidos não mais se colocarão em último lugar em questões de comércio internacional em troca de promessas vazias.”
O Acordo de Mar-a-Lago: um novo Plaza?
Para além da guerra tarifária, há uma agenda ainda mais ambiciosa nas finanças. Stephen Miran, que comanda a assessoria econômica do presidente Trump, elaborou, em novembro de 2024, um plano para reestruturar o sistema global de pagamentos, o qual denominou, em analogia ao “Acordo do Plaza” de 1985, como “Acordo Mar-a-Lago”. Durante a administração Ronald Reagan (1981-1989), a combinação entre o dólar forte, herdado do choque de juros de Paul Volcker, o expansionismo fiscal e a recuperação do nível de atividades após a recessão de 1981-1982, ampliou os déficits em conta corrente.
Reunidos no hotel Plaza, em Nova Iorque, o governo dos EUA impôs aos demais líderes do G5 (Alemanha, Japão, França e Reino Unido) a política de depreciação “coordenada” do dólar por meio venda de seus ativos de reserva. Desde o começo dos anos 1980, a moeda estadunidense acumulava uma alta de 48% com respeito às demais divisas-chave. Isso prejudicava a capacidade de exportar ou mesmo de competir com importações de empresas localizadas naqueles países, particularmente os grupos alemães e japoneses. Em dois anos, o dólar perdeu 27% do seu valor relativo. Os déficits comerciais foram atenuados e os EUA lograram atingir, inclusive, um pequeno superávit em conta corrente, em 1991 (+0,7% do PIB), depois dos recordes negativos do período 1985-1987 (na faixa de -3% do PIB).
Os déficits em alta voltaram a chamar a atenção de analistas, investidores e policy-makers na virada do milênio, quando novos recordes negativos foram atingidos, agora em patamares que oscilavam entre -4% e -6% do PIB estadunidense. Ao invés de Alemanha e Japão, os rivais estratégicos da vez eram as economias emergente na Ásia, particularmente a China. Nenhum novo acordo foi estabelecido, e a sequência de choques, particularmente a crise financeira global de 2007-2009 e a pandemia da Covid-19, contribuiu para que os “desequilíbrios globais” fossem atenuados. Nesses marcos, os déficits em conta corrente dos EUA voltaram a oscilar ao redor de 2,5% do PIB.
Desde 2009, os problemas de fluxos, mesmo que mitigados, foram suplantados por profundos desequilíbrios de estoques. A dívida federal dos EUA, assim como de outros países de alta renda, mais do que dobrou como proporção do PIB; e a posição internacional de investimentos (PII) estadunidense experimentou intensa deterioração, passando de -13% do PIB, em 2008, para -88% do PIB, em 2024. Na dimensão fiscal, os mais de US$ 30 trilhões em dívida pública estadunidense, equivalente a 30% do PIB global e 122% do PIB dos EUA, pressionam o orçamento público gerido por Trump, cujos pagamentos de juros, já ultrapassam os 3% do PIB. Tal montante se aproxima dos gastos militares (3,4% do PIB em 2023) e representa o dobro de pagamentos de juros na média do período 2001-2023 (1,5% do PIB).
Nesse contexto, Stephen Miran, assim como Scott Bessent, Secretário do Tesouro de Trump, e J.D. Vance, vice-presidente, assumiram a perspectiva de que origem dos desequilíbrios externos da economia estadunidense estaria na interseção entre três problemas fundamentais: a posição do país como emissor do ativo de reserva-chave da economia global, sua função de provedor de segurança militar e, também, de sustentáculo da demanda global por bens e serviços. O “dólar forte” seria uma expressão final dessa encruzilhada, dada a demanda inelástica pela liquidez e segurança dos T-Bonds. Ao exercitar o papel de estabilizador hegemônico, os EUA de Trump seriam vítimas de um sistema “injusto”, que distribui benefícios de forma desigual e contrária à sua liderança global.
Para os estrategistas de Trump não basta desvalorizar o dólar ou reduzir os déficits comerciais. Haveria de se reformar radicalmente o sistema global de comércio, de segurança e de investimentos.
Uma Proposta que não pode ser
Debates em torno dos efeitos do “dólar forte” e das possibilidades de rebalanceamento da economia global não são exatamente novos, assim como a tese de que o excesso de entrada de capitais nos EUA seria uma das fontes fundamentais dos “desequilíbrios globais”. O influente Michel Pettis, particularmente em seus livros de 2013 (The Great Rebalancing) e 2020 (Trade Wars are Class Wars) tem criticado os excessos da era da financeirização. Para ele, fluxos de capitais em demasia nos EUA corroeriam os fundamentos das atividades produtivas, particularmente na indústria de transformação, por conta da apreciação cambial. Essa perspectiva ganhou força dentre os estrategistas econômicos de Trump.
Para depreciar o dólar e, assim, recuperar a “competitividade externa” estadunidense, o Acordo de Mar-a-Lago de Miran vislumbra a necessidade de combinar instrumentos comerciais e financeiros. O uso da “diplomacia financeira” seria tudo, menos sutil. Países considerados “amigos” obteriam vantagens negociais – tarifas e/ou impostos menores sobre fluxos de capitais – e apoio securitário; ao passo que parceiros “neutros” ou “inimigos” seriam punidos na proporção de suas supostas distorções e espoliações sobre os EUA. Na linha do clássico “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola, Trump ofereceria termos que “não podem ser recusados”.
Com a guerra tarifária, Trump mostrou suas cartas iniciais. Cada parceiro já sabe a sua nova “tarifa”. Alguns, como a China, já estão reagindo à altura, o que jogou os mercados financeiros em novos movimento baixistas, em meio às incertezas sobre os rumos da economia global. Se o plano de Marlin seguir seu curso, a pressão tarifária seria parte de um jogo mais ambicioso, que também envolveria a reestruturação da dívida pública estadunidense: soberanias estrangeiras seriam pressionadas a trocar seus ativos de reserva em carteira (títulos mais curtos do Tesouro dos EUA ou ouro), por novos bônus perpétuos do Tesouro (de 50 ou 100 anos), não negociáveis e a juros baixíssimos, no limite nulos. Quem se negasse a aderir ao novo modelo de financiamento seria punido com tarifas adicionais sobre o comércio internacional e a perda de apoio militar dos EUA.
Em uma palestra para a nata da elite financeira do país, Besset deixou claro o objetivo de reestruturar as regras do jogo em suas múltiplas dimensões. In verbis: “O sistema de comércio internacional consiste em uma rede de relacionamentos – militar, econômico, político …. interligações que podem ser reordenadas para promover o interesse do povo americano. Isso é contrário às últimas décadas, quando outros países agiram para promover seus próprios interesses, enquanto nossos formuladores de políticas se esqueceram amplamente das compensações … O resultado foi que os Estados Unidos forneceram uma fonte de demanda massiva, agiram como árbitros da paz global, mas não receberam compensação adequada …. também fornecem ativos de reserva, servem como consumidores de primeiro e último recurso e absorvem o excesso de oferta diante da demanda insuficiente nos modelos domésticos de outros países. Este sistema não é sustentável.”
Seguem, no tabuleiro trumpista, a discussão de medidas financeiras disruptivas, como a reintrodução de controles de capitais, por meio da tributação de investidores estrangeiros, a reestruturação da dívida federal, restrições sobre linhas de crédito em dólares para outros bancos centrais e sobre pagamentos internacional via cartões de crédito das gigantes Visa e Master, dentre outras.
A nata da ortodoxia econômica e os órgãos multilaterais preveem impactos negativos sobre o crescimento econômico, os preços e os mercados financeiros. Lamentam o seu mundo perdido, da mesma forma que a elite política e financeira testemunhou a derrocada da ordem liberal em meio às guerras e crises que abalaram as primeiras décadas do século XX.
*Docentes do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFRGS.
Foto de capa: : RS/Fotos Públicas





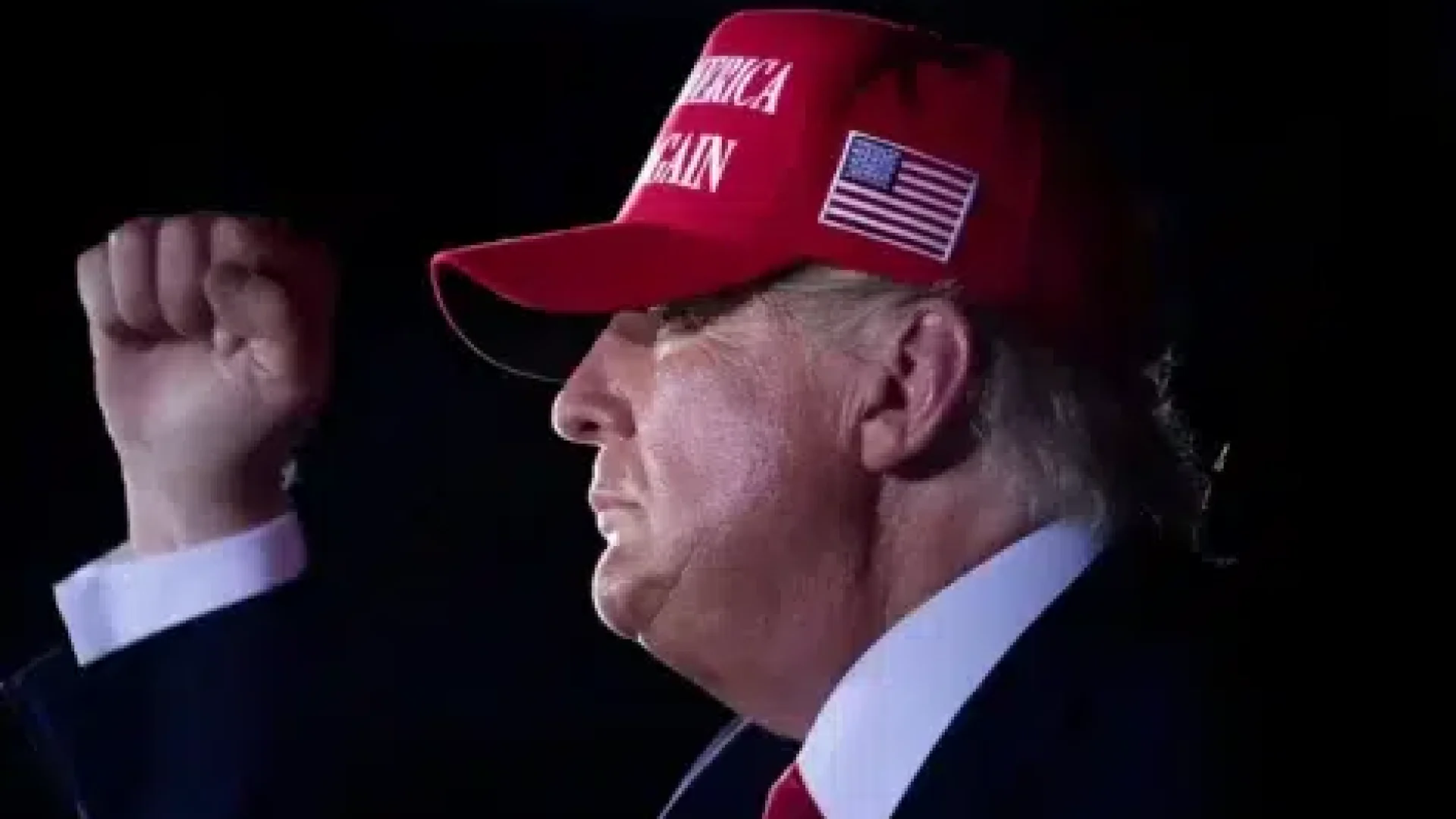

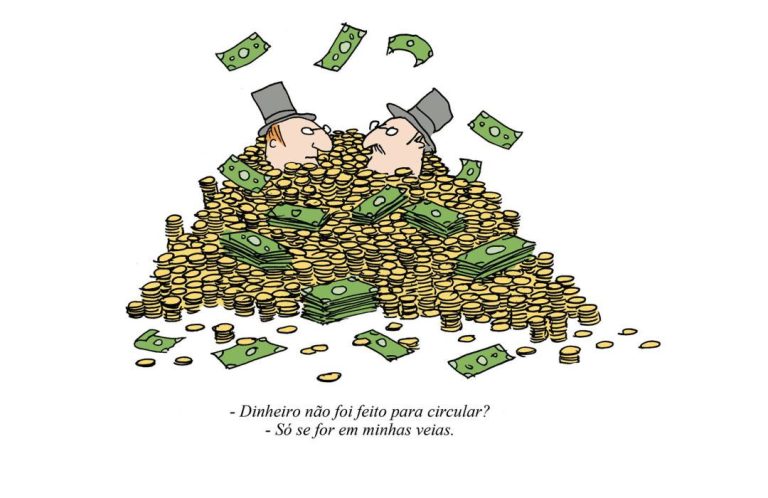




Uma resposta
Ótimo texto. Li com prazer, muito esclarecedor. A red.org.br está de parabéns pela publicação de artigos com conteúdo de qualidade, como este.