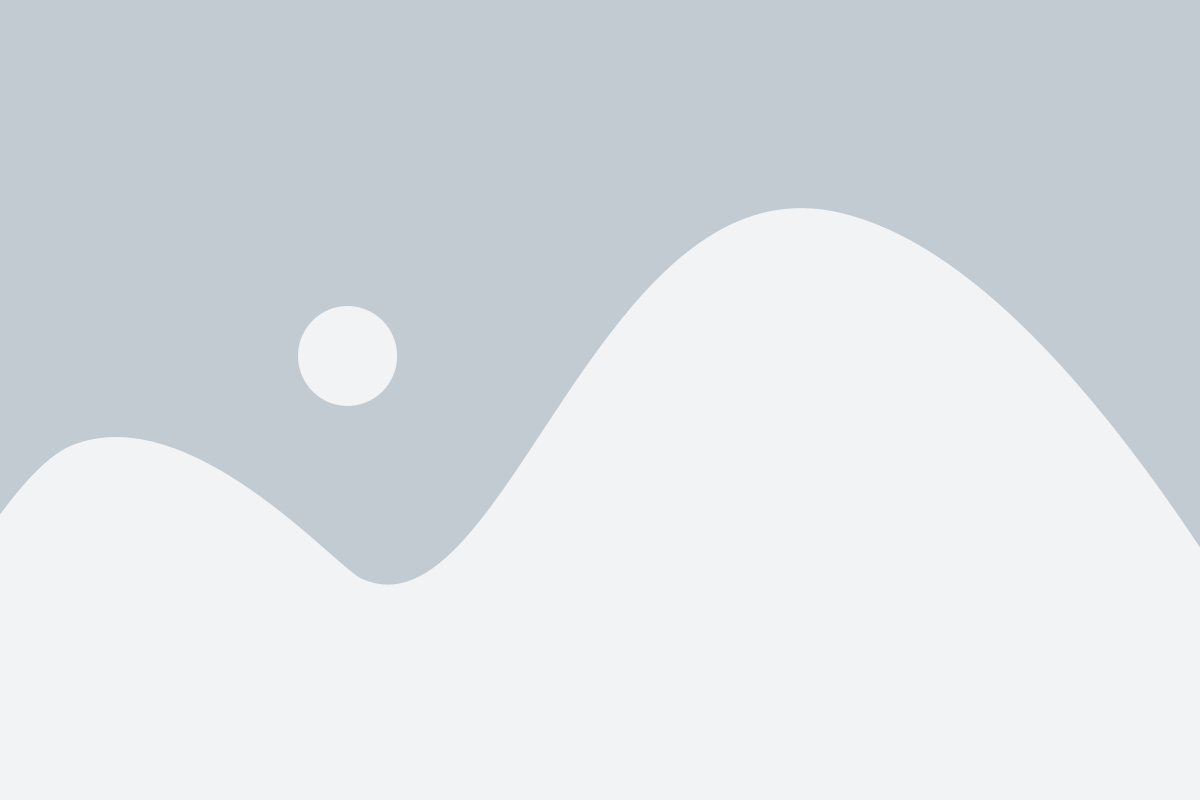Por CARLOS ÁGUEDO PAIVA*
Introdução: a Questão do Estado Brasileiro
Do meu ponto de vista, Raymundo Faoro, Florestan Fernandes e Celso Furtado são os três maiores intérpretes do Brasil. Os dois primeiros, centraram sua atenção na peculiar formação político-econômica nacional. A tese esgrimida por ambos é que as relações entre o Estado e a Sociedade Civil Burguesa no Brasil são peculiares. Ao contrário das nações que passaram por Revoluções Burguesas abertas e disruptivas (como Reino-Unido, França e Estados Unidos), nossa transição para o capitalismo não foi apenas gradual: ela foi mediada e administrada pelo Estado herdado da ordem social escravista, mercantilista e patrimonialista. Como resultado, nossa transição – dialeticamente – completou-se e não se completou. O que significa isso?
Antes de mais nada, significa que o Estado brasileiro preservou traços do Ancien Régime. Ele não é apenas um mediador dos conflitos entre as distintas frações e estratos do capital – multinacional X nacional; agrário X industrial X comercial X financeiro; pequeno X médio X grande. Ele é mais do que isso: ele exerce essa mediação de forma discricionária, desrespeitando as regras competitivas e interferindo diretamente sobre a apropriação de patrimônio e sobre a distribuição do excedente social. Mas que se entenda bem: Faoro e Florestan não desconhecem o fato (óbvio e elementar) de que todo e qualquer Estado burguês está a serviço da acumulação de capital; nem desconhecem o caráter universal da “intimidade” entre agentes da burocracia estatal e o empresariado capitalista. Uma intimidade que se manifesta, muitas vezes, no tratamento diferenciado dado distintos grupos empresariais. Sim, é fato. Mas isso não anula nossa especificidade.
A diferença específica da relação entre Estado e Burguesia no Brasil encontra-se no grau de “intimidade”. Uma analogia pode ser esclarecedora: intimidade, hierarquia, preferências, invejas e mágoas estão presentes em todas as famílias. Mas não é em todas as famílias que graça o abuso, o incesto, o tratamento rigorosamente desigual dos filhos (para não falar em parricídio ou filicídio). A relação entre Estado e Burguesia no Brasil não é de mera intimidade: é promiscuidade, abuso e incesto. A capacidade do Estado Brasileiro de interferir sobre o processo competitivo é peculiar. Como vieram a descobrir – e continuam descobrindo – alguns dos maiores empresários brasileiros, como Irineu Evangelista de Souza (o Barão, que era militante do Partido Liberal, o Partido errado), Delmiro Gouveia (falido e assassinado), Romeu Romi (pai da falecida Romi-Isetta), Celso da Rocha Miranda (da falida Panair), Avelino Vieira (do falido Bamerindus), Emílio Odebrecht (da empresa de mesmo nome, destroçada pela Lava-Jato), Wesley Batista (preso nos governos Temer e Bolsonaro, e que teve de se desfazer do braço de laticínios da JBS), dentre incontáveis outros. Mas o nosso Leviatã não faz só maldades. Que o digam Benjamin Steinbruch (o empresário têxtil que virou o rei do aço da noite para o dia); Murilo Ferreira e demais sócios majoritários da Vale (vendida a preços camaradas com financiamentos ainda melhores); Lemann e sócios, donos da maior cervejaria do mundo (e que deram a tunga na malta no caso das Americanas); e tantos outros que – agraciados com mimos os mais diversos – souberam corresponder com apoio político, carinhos e presentes (incluindo haras e apartamento em Paris).
E engana-se quem pensa que a interpretação de Faoro e Florestan deite raízes no weberianismo e seria estranha ao materialismo histórico. Em As duas táticas da Social-Democracia, Lênin afirma que, após o fracasso da Revolução de 1848 na Alemanha, as transições para o capitalismo estavam fadadas à incompletude se fossem levadas adiante exclusivamente a partir da mobilização das lideranças políticas burguesas. Somente se os trabalhadores tomassem as rédeas da revolução, ela extrapolaria os estreitos limites da classe dominante. A revolução ainda seria burguesa, pois suas palavras de ordem seriam as palavras de ordem clássicas das transições radicais: liberdade de expressão e organização, reforma agrária, Estado laico, universalização dos direitos políticos, dentre outras. Mas, ao ser dirigida pelos trabalhadores, ela poderia avançar, gradativamente, no sentido do socialismo.
Em A Revolução Burguesa no Brasil, Florestan parte da disjuntiva leninista para explicar o significado do Golpe de 1964. De acordo com Florestan, o golpe não foi perpetrado com vistas a cercear a transição brasileira para o capitalismo industrial e financeiro. Pelo contrário. Ele foi o ápice do padrão lento, gradual e restrito da transição brasileira para o capitalismo. Florestan – como Lênin – entende (corretamente) que a transição para o capitalismo estava e continuaria em processo. O problema é que, na visão de Florestan, no Brasil (por oposição à Rússia), o movimento de conclusão dessa transição foi realizado por cima. Após 64, o Estado passou a operar plenamente como agente do conjunto das frações proprietárias e burguesas. Mas apenas dessas frações, eliminando a classe trabalhadora de toda e qualquer participação política. Essa era, também, a perspectiva abraçada por Faoro e manifesta em sua vasta produção ensaística sobre a ditadura e sua crise.
Não obstante, havia uma questão em aberto, que galvanizava a atenção desses dois mestres: na exata medida em que o projeto da ditadura era bem-sucedido, aprofundava-se, de um lado, a industrialização, a urbanização e a proletarização e, de outro, a concentração de renda e da propriedade. Em suma: a ditadura colocou um barril ao lado de fios em curto-circuito e o encheu de pólvora: mais cedo ou mais tarde, haveria uma explosão. A pergunta que se impunha, era: o que virá depois?
A dificuldade na resposta encontrava-se justamente no fato de que o Estado não era apenas patrimonialista, autocrático e excludente. Ele também era um Estado Burguês de um país periférico. E – como nos ensinou Celso Furtado (e toda a CEPAL) – esse Estado tinha que cumprir funções específicas e peculiares no processo de acumulação de capital interno. Ao contrário dos países cuja industrialização foi rigorosamente endógena, o crescimento industrial brasileiro deu-se com a importação de máquinas, equipamentos, insumos pesados e tecnologia. Com o avanço da concentração, centralização e internacionalização do capital, o desequilíbrio na competitividade e potencial de acumulação dos blocos de capital periféricos e centrais foi ampliado. E não apenas no plano tecnológico. Tão ou mais importante é o papel dos Estados Imperialistas na defesa e promoção dos blocos de capital nacionais. Mais uma vez, vale apelar para o exemplo recente do Grupo Odebrecht: sua crise não é oriunda da falta de competitividade ou de falta de capacidade inovativa. O problema era exatamente o oposto: “sobrava-lhe capacidade competitiva”. E a Lava-Jato – com evidente e notório “apoio e respaldo externo” – deu um jeito de cortar as asas do grupo brazuca que começava a ocupar nichos que não lhes caberia na seara internacional.
O que importa entender, é que Faoro e Florestan tinham plena consciência da complexidade dos desafios interpostos ao desenvolvimento capitalista nacional após a crise da ditadura. É preciso fazer uma leitura muito apertada, muito pequena, de suas contribuições para tomá-los como “críticos do Estado”. Eles eram críticos das insuficiências, dos arcaísmos, do discricionarismo, dos traços ainda-não-plenamente burgueses do Estado Nacional. E, por isso mesmo, colocavam-se a questão central: será possível sustentar um Estado forte, intervencionista e desenvolvimentista nos marcos de uma sociedade democrática?
A resposta ideológica à pergunta dos mestres
A primeira determinação da ideologia é ser uma simplificação. Desde logo, ela não poderia se difundir, se disseminar, se não propusesse uma leitura simples e clara da realidade. E toda a ideologia é clara; pois ela se estrutura em termos binários, maniqueístas. No campo da ideologia, o mundo está dividido entre os “do mal” – sejam eles os corruptos, os comunistas, os estatistas, os burgueses, os liberais, os judeus, os depravados ou os homossexuais, enfim, os outros – e os “do bem” – que podem ser os mesmos da lista acima, a depender da sua … ideologia. Mais: como o problema é simples (bandidos contra mocinhos), a solução também é simples. Os ideólogos sabem exatamente o que precisa ser feito e reduzem tudo a uma palavra de ordem, na linha: Menos Estado, simples assim. Ou: Mais igualdade, simples assim. Ou: Menos corrupção, simples assim. Ou: Menos subsídios, simples assim. Ou: Mais pesquisa, desenvolvimento e inovação, simples assim. … No campo da ideologia, tudo é muito simples. Na ideologia, não há complexidade, não há contraditoriedade, não há historicidade, não há especificidade, não há totalidade.
Fernando Henrique Cardoso foi orientando de doutorado de Florestan Fernandes e sempre se referiu a ele como mestre. Foi colega de Furtado na Cepal e o citava como uma de suas referências intelectuais. Mas seus elogios mais eloquentes dirigem-se a Raymundo Faoro de quem – pretensamente – extrai a tese de que o Estado Brasileiro seria patrimonialista. Ora, Cardoso está muito longe de ser um simplório. Entretanto, o tratamento que ele deu a esses (pretensos) mestres foi amplamente criticado pelos mesmos. Por quê? Porque FHC os simplificou. Até torná-los irreconhecíveis.
A trajetória de simplificação-ideologização do pensamento de FHC tem início com sua Tese de Livre Docência, intitulada Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico. Nela, FHC faz a crítica da industrialização por substituição de importações, afirmando que – a despeito da aparência em contrário – ela havia se dado sem planejamento real e fora alimentada pelos elevados preços dos similares importados. Segundo ele, deu-se “um tipo de industrialização extensiva; …. [onde] os industriais preferiram, em geral, aumentar o número de indústrias ou o equipamento, a melhorar a capacidade produtiva instalada” (Cardoso, 1964, p. 126). Mais. Segundo o autor
“os preços são fixados em função das empresas de mais baixa produtividade, assegurando-se altos lucros para as mais modernizadas e a sobrevivência das que são obsoletas. Por outro lado, como existem áreas de consumo protegidas da concorrência pela distância em que se acham dos centros produtores mais dinâmicos do país e pelo preço exagerado dos fretes e custos de distribuição, foi possível manter, exatamente nas regiões mais pobres, a possibilidade de altos custos, altos preços, baixos padrões tecnológicos e altos lucros. (Cardoso, 1964, p 127).
Cada vez que eu releio os textos de FHC me pergunto como alguém pode ter acreditado que ele tenha dito “Esqueçam tudo o que eu escrevi!”. Não sei se ele realmente a enunciou, ou não. Mas, se o fez, mentiu. Pois ele realizou exatamente o que propugnava: acabou com todo e qualquer tipo de proteção à indústria nacional, pretendendo que a exposição competitiva era a condição necessária e suficiente para estimular a inovação e a modernização do sistema produtivo nacional. A dúvida real é outra: como tantos puderam acreditar que havia um abismo entre seus textos e suas práticas em seus governos.
Creio que a confusão acerca das reais intenções de FHC seja indissociável de suas referências teóricas formais. Ele encapsula sua defesa da exposição e da abertura da economia nacional para o capital estrangeiro numa leitura do imperialismo e da dependência que é pretensamente leninista. Para FHC, na etapa imperialista, o capital teria rompido com suas bases nacionais, havia se “transnacionalizado”. O que isso significa? Que a defesa do capital nacional é um discurso ideológico que só serve para colocar o Estado a serviço dos interesses de uma burguesia incompetente, avessa ao risco e à inovação e viciada em tarifas e em taxas de câmbio protecionistas. … É simples: Basta abrir as portas para o capital estrangeiro. Se ele for bem tratado, acabará se “nacionalizando”.
O mais interessante é que esse discurso simplificador tem um forte apelo e “soa” como radical e esquerdista. Para que se entenda o ponto, trago uma experiência. A primeira vez que assisti a uma exposição de Lula foi no segundo semestre de 1979, quando ele veio a Porto Alegre para apresentar o projeto do Partido dos Trabalhadores e deu uma palestra na Assembleia Legislativa do Estado do RS. O plenário estava lotado e parcela expressiva do público era composta por militantes dos movimentos estudantil e sindical da capital. Num determinado momento, Lula fez a seguinte observação:
Acusam os fundadores do PT de não diferenciarem a burguesia nacional da burguesia internacional. É mentira! …. O PT diferencia perfeitamente bem as duas burguesias. … E a diferença é simples. A burguesia nacional paga salário-mínimo. A burguesia internacional paga um pouco mais do que isso. E essa é toda a diferença que importa para os trabalhadores!
Após o “É mentira!”, Lula fez uma pausa estudada. Fez-se um silêncio atordoante no Plenário. Mas quando Lula esclareceu a “diferença percebida”, o Plenário veio abaixo com palmas, hurras e festejos. Na concepção dos jovens estudantes e dos representantes do novo sindicalismo ali presentes, tratar as duas frações da burguesia como uma única e mesma coisa – como igualmente “bandidos” – era a prova maior de que nos encontrávamos diante de um líder revolucionário. A diferença é que a frase dita por Lula traduzia seu pensamento real naquele estágio de seu desenvolvimento político: ele ainda pensava como um sindicalista, não como o articulador de um projeto global para o Brasil. O caso de FHC é completamente distinto. Sua pretensão de que a burguesia internacional era mais competente, mais inovativa e tão (pouco) “nacional ou nacionalista” quando a nativa não expressava qualquer imaturidade: era o seu projeto; que ele fez acontecer.
FHC: nossa estrela guia
Já disse que a característica mais marcante da ideologia é sua “simplicidade”. O enunciado ideológico básico sempre começa com um “É simples! Basta … blá-blá-blá”. Cada ideólogo compõem a sua própria “solução simples”. Para os fascistas, basta acabar com a ideologia de gênero, proibir a umbanda e o proselitismo comunista e prender todos os bandidos e corruptos (que são os outros, evidentemente!). Para uma certa esquerda radical, basta ter vontade política e mobilizar as massas para acabar com os juros exorbitantes, com a corrupção (que eles também odeiam!) e sanear as finanças públicas ampliando os gastos com educação, saúde, segurança e infraestrutura. É simples assim. Tal como os caixeiros viajantes do século XIX que vendiam elixires com poderes mágicos para curar tudo (de solitária à coqueluche, passando por asma e gonorreia), os ideólogos da modernidade também têm a solução dos problemas do país na palma da mão.
Florestan, Faoro e Furtado se perguntavam como (e se!) seria possível reordenar o Estado na crise da ditadura, tornando-o, simultaneamente: 1) mais forte e presente nas vilas, nas favelas, no campo, nos espaços de aglomeração dos excluídos; 2) mais eficiente, eficaz e efetivo no planejamento do desenvolvimento socioeconômico; e 3) mais inclusivo, isonômico e democrático. Eles não sabiam a resposta. Viam o horizonte com um misto de curiosidade e apreensão. E buscavam perscrutar caminhos e alternativas. Infelizmente, essa tradição se perdeu. Venceu o cardosismo. E, no cardosismo, tudo é fácil.
Para FHC, o Estado brasileiro era grande demais, pesado demais, ineficiente demais e promotor de um “protecionismo discricionário”. O que isso significa? Que ele protegia a burguesia interna da concorrência externa. Mas essa proteção era realizada de forma desigual; na linha: para os amigos, tudo; para os inimigos, apenas regras, leis e empecilhos. Pergunto: esse diagnóstico está errado? A resposta não é simples. Ele é parcialmente correto e parcialmente errado. Não é verdade que o Estado era grande demais. Nas periferias do sistema – seja no campo, seja nas favelas – vivia-se (e, em parte, ainda se vive) o Estado é mínimo. Vive-se no “Estado da Natureza” de Hobbes: cada um se defende e ataca como pode; não há lei, nem segurança. Inclusive porque os agentes “da lei” não a cumprem. Mas é verdade, sim – como Faoro e Florestan tantas vezes apontaram – que o Estado Patrimonial Brasileiro não tinha nada de isonômico e protegia os mais amigos enquanto punia os desobedientes. Mesmo os milionários. Como os Odebrecht.
Colocado nos seus devidos termos, vê-se que, do diagnóstico, não se extrai qualquer receita-solução simples. O Brasil é um país periférico e, como tal, ele não precisa do Estado apenas como garantidor da ordem. Precisa do Estado planejador, promotor do desenvolvimento, redistribuidor de renda e patrimônio e – last, but not least – de um Estado produtor. FHC não via assim. E, pretendendo fazer a crítica objetiva do Estado Patrimonial, fez a farra das privatizações. Privilegiando os mais amigos (como Steinbruch) e punindo os desafetos (como Avelino Vieira).
Por que o fez? Por ignorância? Por simploriedade? Não entendia que estava reproduzindo (de forma, até, ampliada) a prática criticada por seus pretensos mestres? Não creio. FHC tem inúmeros defeitos. Mas a burrice não se encontra entre eles. Ele sabia exatamente o que fazia. E qual era a razão de sua ação.
A verdade é que, tal como no início dos anos 60, durante o governo Jango, a democracia era perigosa. Da perspectiva da elite nativa, não se poderia entregar um Estado forte, com ampla capacidade de ação e de redistribuição de renda e patrimônio para a “patuleia”. A emasculação do Executivo – através das privatizações, da criação de Agências Reguladoras com ampla autonomia, da ampliação dos poderes do Congresso, do Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas (via Lei de Responsabilidade Fiscal) e da autonomização do Banco Central – foi a “solução” encontrada para a pergunta feita por Florestan e Faoro na crise da ditadura: como preservar o Estado Patrimonial em um regime político formalmente democrático e, portanto, com o “risco” de captura do Executivo por partidos de esquerda? A resposta foi: deprimindo o poder do Executivo sem deprimir o poder do Estado de uma forma geral. O Judiciário nunca foi tão forte em nosso país como ele é hoje. A Lava-Jato sujou honras, prendeu inocentes e destruiu empresas, com amplo apoio da mídia conservadora. O STF tirou de Dilma o direito de nomear Lula como ministro em função de um grampo obtido ilegalmente e que foi vazado intencionalmente e seletivamente para a imprensa. O Congresso deu um golpe-impeachment com apoio do Tribunal de Contas e do STF. O Banco Central – cujo Presidente tem que ser aprovado pelo Senado desde 1988 – autonomizou-se de forma crescente. O Congresso tem amplo poder sobre o Orçamento e a carga tributária e mantém o Executivo sob tutela. O sistema produtivo federal foi sucateado juntamente com o sistema financeiro dos Estados. Hoje, os governadores conservadores persistem na sanha privatista de FHC, a despeito dos resultados pífios em termos da qualidade dos serviços entregues: não se trata de buscar a eficiência. Trata-se de sucatear o Executivo e premiar os empresários mais amigos. É o velho patrimonialismo travestido de modernidade. É a hegemonia cardosiana em curso.
Mas nossa maior derrota foi nas ideias
A despeito do “amenorzamento” do Executivo articulado, orquestrado e realizado por FHC e seus discípulos (que estão espalhados por todo o espectro da direita brasileira), as gestões petistas se mostraram tão competentes que só foram retirados do governo com golpe-impeachment por falsas pedaladas e com a prisão de Lula (pelo crime de haver visitado um triplex) às vésperas das eleições de 2018. Não fosse isso, muito provavelmente o PT estaria no seu sexto mandato consecutivo. Daí não se pode concluir, contudo, que, no frigir dos ovos, a “turma do andar de baixo” tenha saído vitoriosa. O quadro é bem mais complicado.
Tal como costuma afirmar Reinaldo de Azevedo, o atual mandato de Lula não é “de esquerda”. Lula articulou uma frente-ampla antifascista para impedir a reeleição de Bolsonaro. Porém – e esse é o ponto para o qual quero chamar a atenção – não é por ser uma “frente” que o governo adota políticas fiscais, industriais, financeiras, monetárias, cambiais e sociais (em especial, nas áreas de Educação, Habitação e Previdência) essencialmente ortodoxas (para não dizer conservadoras). Quem orquestra, articula e realiza essas políticas são os ministros do PT; Haddad à frente de todos. Sua busca do equilíbrio (e, mais adiante, do superávit) fiscal não é um discurso para a mídia e a Faria Lima: ele realmente acredita que a o equilíbrio fiscal é essencial para o crescimento econômico e que os juros elevados são essenciais para conter a inflação. Haddad faz (como Palocci fez) uma política ortodoxa porque é um ortodoxo. E é enquanto ortodoxo convicto que se dá ao direito de fazer críticas acerbas a economistas que conduziram políticas distintas da sua (como Dilma Rousseff) e/ou que propõem inflexões na política monetária (como André Lara Resende).
Se Haddad fosse uma exceção, não haveria por que nos preocuparmos. Mas Haddad é a norma. Querem uma prova? Simples: ouse colocar em pauta em grupos de economistas desenvolvimentistas a necessidade de desvalorizar o real com vistas a elevar o preço dos importados e deprimir a exposição competitiva da indústria nacional. Eu fiz isso; e o adjetivo mais carinhoso que recebi foi “dinossauro”. Um colega chegou a comemorar o fato de eu não participar da gestão econômica do país, pois minha concepção de política industrial é totalmente ultrapassada. Concordei e respondi: Sim, é cepalina e getulista. O FHC acabou com Era Vargas, mas eu não me converti.
Porém, o ponto para o qual quero chamar a atenção não diz respeito à defesa (ou não) de uma nova política cambial. O ponto central é a dificuldade em reconhecer a complexidade e o caráter multideterminado dos processos de desenvolvimento. Hoje o discurso econômico ortodoxo se assenta em quatro premissas básicas:
- a determinação primeira do desenvolvimento são sistemas de governança com regras claras, segurança jurídica, o que pressupõe um Estado-Têmis: cego, isonômico e pouco interventor;
- o investimento privado é a principal variável na determinação da dinâmica econômica e ele tende a ser tão mais elevado quanto menor a incerteza com relação ao futuro: a incerteza é deprimida quando o governo adota regras fiscais claras e garante a autonomia do Banco Central;
- a intervenção do Estado é permitida e bem-vinda no financiamento da Pesquisa Científica Básico, na promoção da Inovação e na garantia de que as empresas inovadoras aufiram os legítimos ganhos de seu empreendedorismo através do sistema de patentes;
- o Estado pode e deve contribuir para a expansão da taxa de investimento através da modernização da infraestrutura logística e de geração de energia. Mas o Estado não deve se comprometer com a gestão desses equipamentos. Uma vez disponíveis para o uso coletivo, devem ser repassados para organizações empresariais privadas, estimulando a concorrência no setor.
Em suma: segurança jurídica, regras fiscais e monetárias claras, apoio à Pesquisa e à Inovação e Investimento em Infraestrutura. Simples assim. E sem contradição. Na dúvida, leia Fernando Henrique Cardoso ou Gustavo Franco. Ou, se preferir – por questão de ideologia – leia economistas heterodoxos. A grande maioria, hoje, vai na mesma toada.
Claro que há desafinados. Em especial os social-desenvolvimentistas, que dão grande peso à distribuição de renda como impulsionador da demanda agregada (é a turma do “Keynes vive!”). Há, também, os desenvolvimentistas clássicos, que pedem mais Planejamento Público (mas parecem não entender que o tempo passou na janela e que o Estado não é mais o mesmo). Há, ainda, um grupo diminuto de ornitorrincos, que falam da importância das exportações (ou, mais exatamente, do saldo comercial) para a promoção da produção interna: são os novo-desenvolvimentistas. Mas eles são exceções, são pontos fora da curva. O consenso é outro. O segredo do desenvolvimento foi desvendado: segurança jurídica e expectacional, investimento e inovação. Simples assim.
Adendo: dois amigos pedem opinião e outro dá uma ajuda
Uma amiga, em viagem pelo norte da Espanha, me escreve perguntando como um país que sempre foi visto como um dos mais pobres da Europa pode estar pujante como está atualmente. Respondo que o nordeste da Espanha (Catalunha, Aragão, Países Bascos, Cantábria e Astúrias) sempre foi desenvolvido. Os territórios pobres eram (e, de certa forma, ainda são) Galícia, Castela, Estremadura e – principalmente – Andaluzia. Porém, – adendo eu – mesmo esses territórios mais pobres vem passando por um desenvolvimento acelerado com o crescimento do turismo; em especial, do chamado “turismo permanente”. O que é isso? É a atração de aposentados para se instalarem em regiões deprimidas, marcadas pelo abandono de parte de sua população e que contam com abundância de residências sem morador. Em algumas regiões, o Estado chega a subsidiar aquisição de residências. Por quê? Porque o aposentado é um grande promotor de desenvolvimento local. Ele não ingressa no sistema econômico como ofertante, nem de mão-de-obra, nem de mercadorias. E, portanto, ele não opera como depressor de preços e de fatias de mercado dos produtores já instalados. Ele é apenas demandante. E demanda, acima de tudo, serviços (comércio, alimentação, saúde, lazer, cultura, transporte) que é o segmento mais empregador da Economia. Assim, a incorporação de aposentados à comunidade é a forma mais econômica de sustar a perda populacional e retomar o crescimento da economia local.
Após responder à amiga, incluí uma consideração sobre nós. A única região do RS com crescimento populacional expressivo é o Litoral Norte, graças à crescente conversão, pelos aposentados, da residência de veraneio em residência principal. Esse agente promotor do desenvolvimento busca tranquilidade, segurança, serviços de qualidade e lazer. Mas nossos políticos querem instalar um Porto em Mar Aberto em Arroio do Sal, espremido entre a Lagoa de Itapeva e mar revolto, no meio do caminho entre Torres e Capão da Canoa, os dois balneários mais gentrificados do litoral. Basta ir a Itapoá (cuja porto, diga-se de passagem, está instalado dentro da Baía de Babitonga, em águas tranquilas e longe da área de veraneio) para ver o acúmulo de caminhões mal estacionados nas ruas em torno do porto, e a proliferação de bares, restaurantes, pousadas baratas e prostíbulos. E vale conversar com os moradores. A maioria vai descrever o crescimento de furtos na praia e a emergência de gangues de traficantes. … Mas os políticos das mais diversas tendências políticas e ideológicas da Terra dos Charruas acham que só o Porto de Arroio do Sal salva. … Sem dúvida: nossa maior derrota foi nas ideias.
Outro amigo, também em viagem, se mostra encantado com os avanços da Pesquisa científica e das políticas chinesas de apoio à inovação. E me pergunta como é possível que eu não reconheça essa obviedade: que o desenvolvimento é função direta do P&D e da inovação. Respondo.
A centralidade da inovação é consenso na teoria econômica, de Adam Smith a Giovani Dosi, passando por Ricardo, Marx, Schumpeter e Solow. Ninguém nega, nem pode negar esse princípio. Mas o fato de uma variável ser central, ser condição sine qua non, não implica que essa variável seja condição suficiente. Na verdade – como muito bem explicava Marx – as inovações poupadoras de mão-de-obra podem levar à depressão da massa de salário e à depressão de demanda. Mesmo se abstraímos o fato de que “o desenvolvimento para alguns pode ser a crise de outros”, não podemos desconsiderar a possibilidade de que a depressão da demanda dos trabalhadores (por desemprego e queda dos salários) leve a uma crise geral. Com rebatimentos, inclusive, sobre a lucratividade daquelas empresas que introduziram as inovações.
Um exemplo concreto: alguém duvida da excelência do sistema de P&D japonês ou das políticas públicas de apoio à inovação nesse país? A pergunta é retórica: claro que não. Entretanto, se tomamos a taxa de crescimento do PIB dos 175 países entre 1995 e 2023 com informações completas (sem solução de continuidade) no World Economic Outlook do FMI e hierarquizamos esses países em ordem decrescente de crescimento descobrimos que o Japão ocupa 169ª. posição. Apenas 5 países apresentaram crescimento menor: Venezuela, Iêmen, Jamaica, Líbia e Líbano.
Pois é! A questão não é a de reconhecer ou não a importância da pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico e da inovação. O problema encontra-se tão somente em tomar uma única variável como “A” (artigo definido singular) variável explicativa. O problema é cair raciocínio do tipo “Simples assim: basta inovar”. Quando nos movemos nessa direção, saímos do campo da ciência para entrar no campo da ideologia.
O acelerado crescimento chinês não pode ser dissociado de sua política de educação, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Mas não pode ser reduzida a isso. O apoio às exportações (com moeda desvalorizada!), a participação de empresas estatais em praticamente todos os setores (com vistas deprimir o grau de monopólio e poder de precificação dos agentes privados), o planejamento público e a orientação dada aos investimentos privados a partir dos planos quinquenais, o controle público do Banco Central e do sistema de financiamento e empréstimo (que oferece taxas de juros baixas em geral e diferenciadas para setores de interesse estratégico), a promoção do investimento público e privado, as políticas de apoio às cooperativas e à geração de emprego, são elementos tão importantes quanto o P&D e a inovação. Na verdade, trata-se de um sistema complexo, de uma totalidade, embasado em uma estrutura política e uma tradição cultural muito distintas das nossas. Não podemos replicar esse sistema. Nós somos outros, com potencialidades e desafios específicos. Nós temos que criar o nosso próprio sistema, enfrentando com galhardia e originalidade teórica as questões que foram postas por Faoro, Florestan e Furtado e que ainda não foram adequadamente respondidas.
Ou, alternativamente, podemos aceitar as respostas dadas por FHC: menos Estado, menos regulação pública, menos planejamento, menos proteção cambial e tarifária e mais exposição competitiva e apoio ao ingresso do grande capital forâneo. E dizer para para as empresas nacionais: se quiserem sobreviver, invistam mais, inovem mais, arrisquem mais. Empreendedorismo e atitude é tudo o que se precisa. …. Então, tá!
Por fim: a frase-título desse artigo não é de minha verve. Mas de um querido amigo e um dos mais qualificados economistas do país. Apesar (ou seria: exatamente por ser?) especialista em economia industrial e inovação técnico produtiva, mantém-se no campo da raciocínio complexo e não aceita nada “simples assim”.
*Carlos Águedo Paiva é Economista, Doutor em Economia e Diretor da Paradoxo Consultoria Econômica.
Ilustração de capa: IA