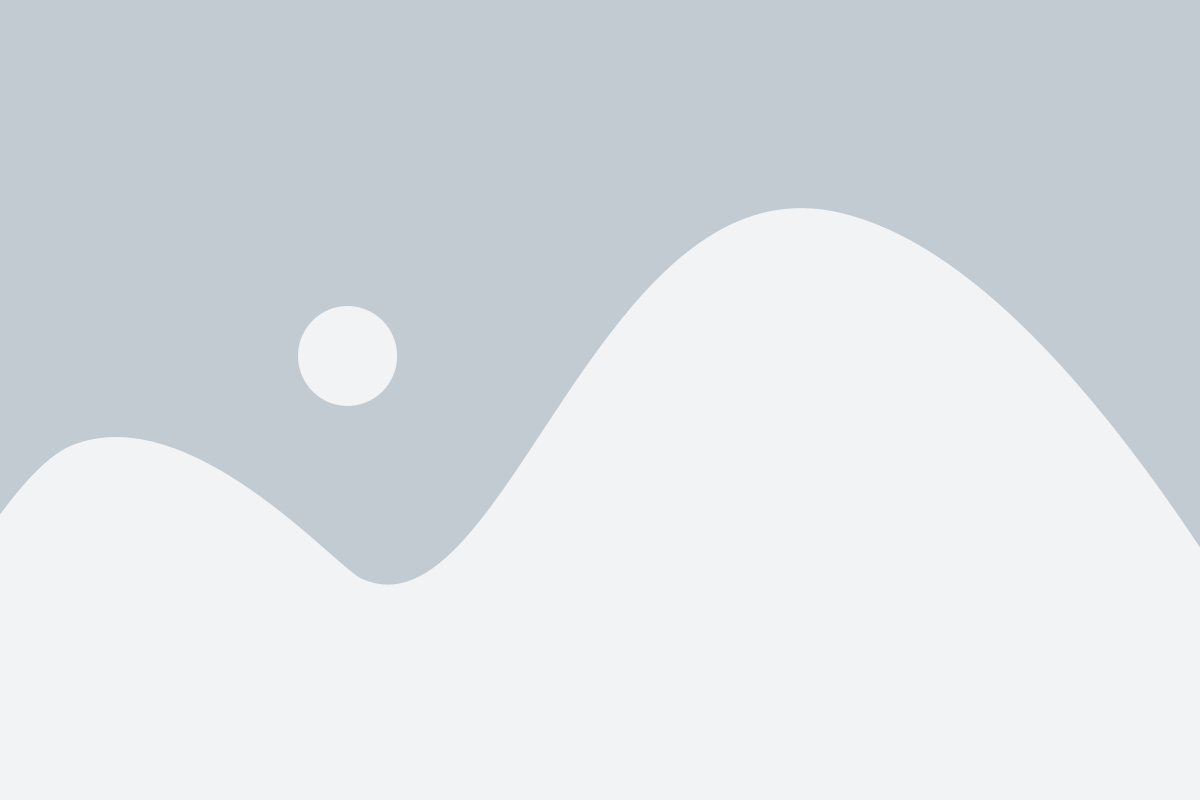Por GUSTAVO DE MELLO*
A tentativa de opor “democracia” a “técnica” é um falso dilema que corrói os alicerces do Estado representativo. Mais do que conceitos abstratos, política e técnica são os dois pilares fundamentais de uma convivência civilizada, cada um com sua vocação própria, mas indissociáveis na construção de um governo que se pretende ao mesmo tempo legítimo perante o povo e eficaz na realização de suas promessas. A defesa intransigente que se propõe aqui é desta união necessária, contra os dois venenos que a ameaçam: a partidarização cega da administração e o disfarce tecnocrático das escolhas políticas. A análise de casos concretos da formação de candidaturas e da gestão de crises revela as consequências catastróficas quando esse equilíbrio se rompe.
O processo eleitoral é, antes de tudo, um rito civilizatório. É o mecanismo pelo qual uma sociedade plural e conflituosa decide, de forma pacífica e periódica, quem detém a autoridade legítima para dirigir o Estado e definir o projeto de nação. Essa decisão – este “o que fazer” coletivo – é inerentemente política. Nenhum algoritmo técnico pode responder a perguntas como “devemos priorizar austeridade fiscal ou investimento social emergencial?”. São escolhas de valores, resolvidas na arena democrática. Uma vez estabelecido esse horizonte político, entra em cena a esfera da técnica com sua vocação própria: o “como fazer”. A administração pública profissional, o conhecimento especializado, a burocracia racional existem para traduzir decisões políticas em realidade de forma eficiente e responsável. A técnica é a linguagem da implementação concreta. Ignorá-la em nome de um voluntarismo ideológico é condenar-se ao fracasso prático.
Contudo, é perigoso ver essa relação como uma simples divisão de tarefas entre esferas estanques. A própria ideia de uma separação rígida pode ser uma armadilha retórica. A técnica raramente é um território de neutralidade absoluta. Os critérios que prioriza, as métricas que elege, as próprias perguntas que se propõe a responder são moldados por visões de mundo e escolhas políticas prévias. Um governo que elege o equilíbrio de contas como meta suprema faz uma opção política tanto quanto aquele que prioriza a redução imediata da desigualdade. Apresentar uma dessas opções como a única “racional” ou “técnica” é uma forma de despolitizar um debate que é, em sua essência, democrático. Trata-se de reduzir um conflito de valores a uma linguagem aparentemente incontestável, para tentar encerrar a discussão. Este é o primeiro veneno: a tecnificação do político, que usa a aura da neutralidade para imunizar projetos contra a contestação popular.
O veneno gêmeo, e mais visivelmente nefasto, é a partidarização da burocracia. Ocorre quando cargos técnicos viram moeda de troca, a expertise é desprezada e a imparcialidade administrativa é sacrificada no altar da lealdade política cega.
Nada exemplifica isso de forma mais trágica do que o caso do general Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde no auge da pandemia. Um militar de alta patente, sem qualquer familiaridade com o complexo Sistema Único de Saúde (SUS), foi colocado no comando da maior crise sanitária global em um século. O resultado foi uma gestão caótica, marcada pelo negacionismo científico da “imunidade de rebanho”, por negociatas escusas na compra de imunizantes e, conforme revelações recentes, por uma completa dissociação entre a gravidade da função e a conduta pessoal – com festas regadas a whisky caro em Manaus enquanto a população morria por falta de oxigênio. Aqui, a política de indicação por fidelidade incondicional aniquilou a técnica necessária. A competência foi substituída pela obediência, a ciência pela ideologia, e a responsabilidade pela irresponsabilidade festiva. A política, neste caso, não cumpriu seu papel de definir fins legítimos; perverteu-se em instrumento de ocupação de cargos, enquanto a técnica foi simplesmente expulsa, com consequências letais.
Este caso extremo nos leva a refletir sobre a formação de candidaturas e a qualidade da nossa representação política. Quando o critério para selecionar um gestor deixa de ser a competência e a sintonia com um projeto de sociedade para ser a lealdade a um grupo ou a conveniência eleitoral momentânea, abre-se o flanco para tragédias administrativas. O eleitor vota em um projeto, mas muitas vezes recebe um ocupante de cargo.
É neste contexto que se pode analisar a atual estratégia política de um governador como Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Eleito com um amplo mandato para ser um dique contra um projeto considerado por seus eleitores como autoritário (“fascista”), o governador agora, em sua preparação para o pleito nacional, adota um discurso que nivela por baixo o espectro político. Ao colocar “os extremos” no mesmo patamar, ele tenta se posicionar como uma nova via de centro, uma racionalidade técnica acima da paixão. No entanto, essa estratégia ignora a natureza substantiva da política. Seu eleitorado não votou apenas em uma “administração competente”, mas em valores e em uma barreira específica contra um projeto considerado perigoso. Ao equiparar esse projeto a outros que seus eleitores também rejeitam, mas por razões diferentes, o governador despreza a emoção, a paixão e a indignação que são o combustível da participação democrática. As vaias que recebe não são um ruído irracional; são a expressão legítima de um contrato político que se sente traído. Ele quer ser visto como gestor técnico acima da briga, mas a política o alcança porque, no fundo, sua tentativa de “terceira via” é ela própria uma jogada política de altíssimo cálculo. Ele busca uma legitimidade nova, descolada das bases emocionais e valorativas que o elegeram, e a reação é inevitável. Este caso mostra como a tentativa de se apresentar como pura técnica de governança, descolada dos compromissos políticos originais, gera crise de representação.
Portanto, o grande desafio não é separar política e técnica, mas gerir sua relação simbiótica com integridade e clareza. A política democrática deve ser soberana na definição dos fins, transparente em seus valores e responsável por suas escolhas. A técnica deve ser competente na execução dos meios, rigorosa em sua análise e humilde para revelar os limites de sua neutralidade. Juntas, elas formam a base de um Estado que é ao mesmo tempo representativo da vontade popular e capaz de realizá-la.
A bandeira política legítima é aquela que nasce de um projeto e lhe sobrevive, orientando a ação para além do próximo pleito. A bandeira de ocasião, seja a da lealdade partidária cega (como no caso Pazuello) ou a do discurso tecnocrático descolado de bases (como na estratégia de certos governantes), é um simulacro que destrói a confiança e a eficácia. Defender a união dialética entre a paixão responsável da política e o rigor da técnica não é um exercício acadêmico. É a condição para evitar que festas com whisky ocorram em meio a mortes por asfixia, e para que vaias justas ecoem quando os termos do contrato democrático são esquecidos. É, em última análise, defender a própria ideia de uma democracia que não apenas vive, mas que funciona e respeita sua própria gente.
*Gustavo de Mello é bacharel em Direito, militante e integrante do Coletivo Santos Soares.
Foto de capa: IA