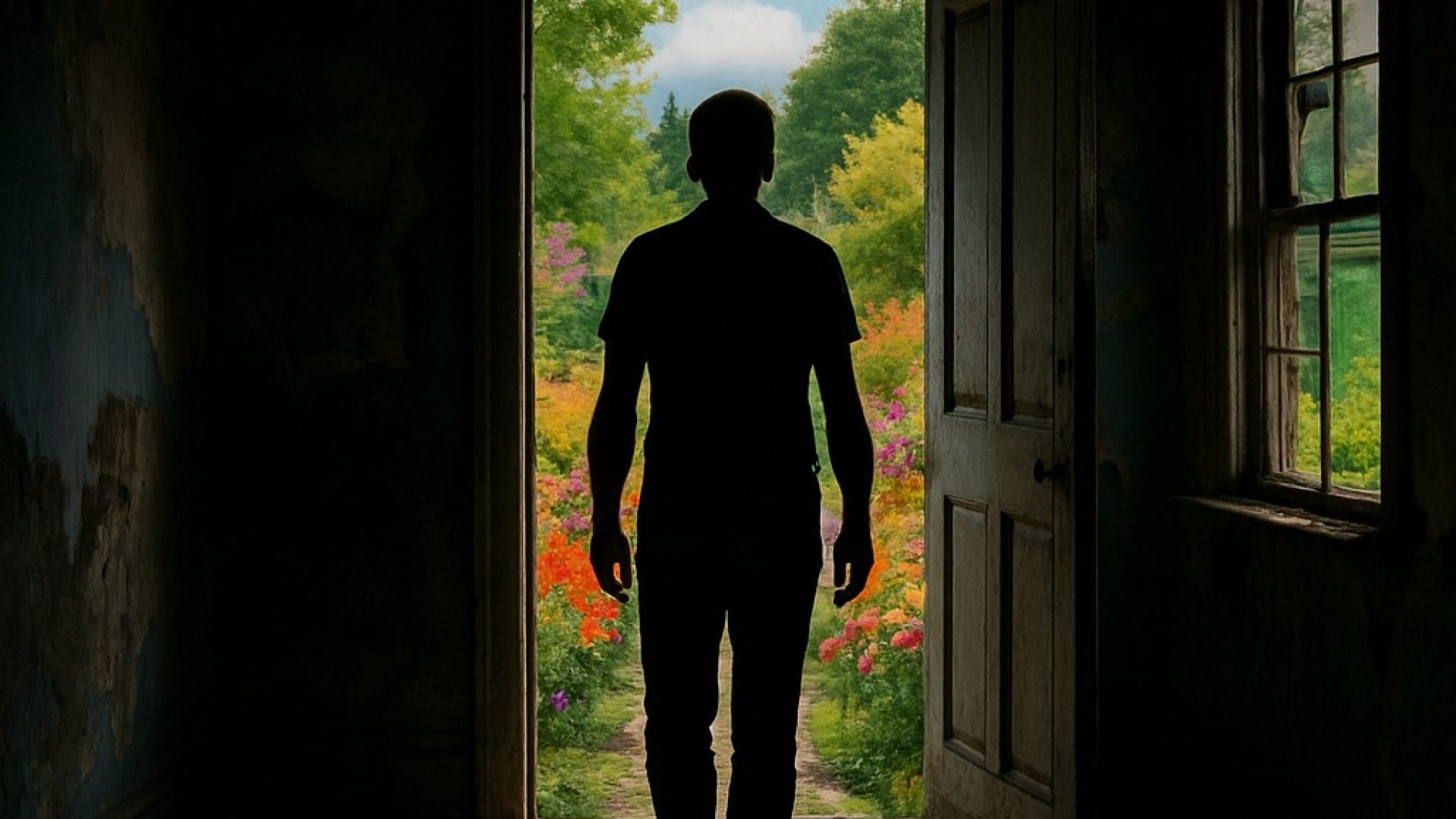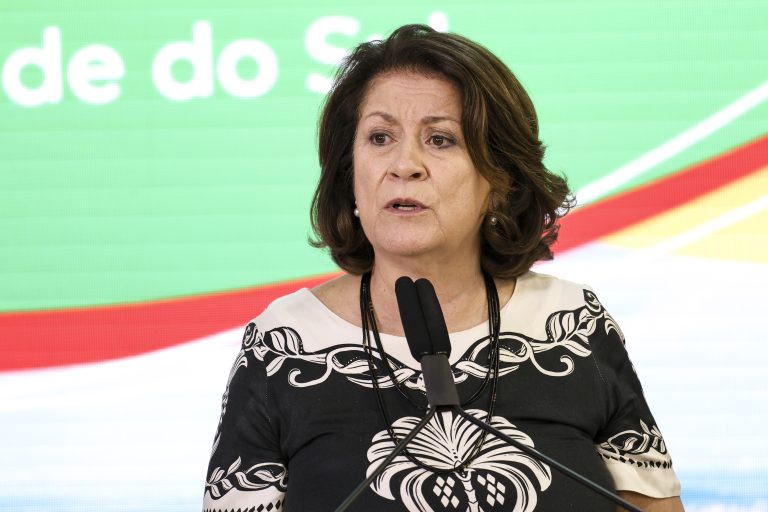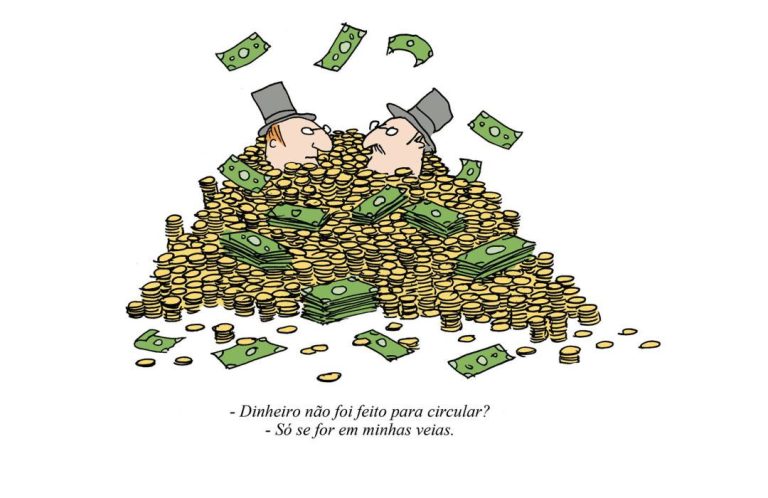(a problemática estrujuntura brasileira: parte 7)
Por CARLOS ÁGUEDO PAIVA*
Introdução: o que vamos tratar nesse texto
Desde 11 de janeiro do ano corrente, quando foi publicado o primeiro texto da série “A Problemática Estrujuntura Brasileira” que venho perseguindo uma questão: por que a economia brasileira, que crescia a uma taxa média anual de 6,71% entre 1932 e 1980 passou a crescer a uma taxa média anual de 2,15% entre 1981 e 2023? E por que a indústria de transformação – que era a locomotiva do primeiro período, crescendo a uma taxa média anual de 9,03% – passou a ser a “lanterninha” da economia no segundo período, crescendo a uma taxa média anual de apenas 0,83%?
Ora, seria injusto com o leitor pretender que os argumentos apresentados nos seis textos anteriores estejam presentes em sua memória. Vejo-me obrigado, pois, a realizar um breve resgate dos argumentos já apresentados. Esse é o objeto da segunda seção, abaixo. Sempre que possível, retomo as teses já esgrimidas a partir de novos exemplos e, até, de novas referências bibliográficas. Não obstante, acredito que haverá leitores para os quais esse resgate será redundante. A esses, recomendaria que iniciassem a leitura desse texto a partir da terceira e última seção.
Por fim um alerta: esse ainda não é o artigo definitivo da série “Estrujuntura”. Preciso ainda de um espaço específico (o oitavo e último desse conjunto; que será publicado dentro de 15 dias na RED) que vou poder explorar o tema mais complexo de todos: como desamarrar os “nós” impostos pelo Plano Real sem que o país volte a apresentar taxas elevadas de inflação. Nem preciso dizer que esse tema será tratado de forma meramente exploratória (para não dizer “tateante”). Vou tomar por referência, de um lado, a peculiaridade da inflação brasileira e, de outro, as experiências bem-sucedidas (como a Chinesa) de controle inflacionário em condições de desvalorização cambial. E (tentar) apontar para as possibilidades abertas à frente.
Não obstante, sei bem que a construção de um programa alternativo de controle inflacionário não é obra de um indivíduo. O “alto tucanato” sabia bem disso, e construiu o Real a partir de um amplo, sólido, denso, competente debate coletivo na famosa “Casa da Garças”, onde se reunia a liderança intelectual do Departamento de Economia da PUC-Rio. Há anos me pergunto onde a esquerda não ortodoxa está fazendo esse debate. Se alguém souber, por favor, me conte. Não preciso nem frequentar as reuniões. Só gostaria de saber se há alguém pensando nisso. Por mera curiosidade. Há alguém tentando construir alternativas para a gestão macroeconômica brasileira que foi construída em 1994 e que, ainda imperante, nos colocou nesse reme-reme? Onde se debate, hoje, uma alternativa ao Plano Real e à ancoragem cambial enquanto instrumento de controle da inflação? … Não tenho esperanças de obter retornos antes de publicar o último artigo dessa série. Mas – sem qualquer ironia ou recurso retórico – gostaria muito de ter retornos sobre essa questão. Muito mesmo.
Revisitando os artigos anteriores e sistematizando os argumentos
Tal como procurei defender nos seis artigos já publicasos, há duas determinações básicas para a expressiva queda da taxa de crescimento global (PIB) e da Indústria de Transformação nas últimas 5 décadas A primeira determinação é que o Estado passou por um processo de “fragmentação” a partir da crise da Ditadura Militar, na virada dos anos 70 para os 80. Essa fragmentação envolveu uma sensível perda de autonomia, de capacidade de execução e de planejamento daquele Poder que – contraditoriamente ou não – se chama “Executivo”. Na verdade, eu diria que, a partir dos anos 80, o Executivo foi como que “emasculado”, “castrado”; enquanto os demais poderes – o Legislativo e o Judiciário – ganharam “musculatura” e capacidade de intervenção. Também foram fortalecidas uma série de organizações que, a despeito de formalmente subordinadas a um dos Três Poderes, operam, de fato, como estruturas autônomas. Penso, aqui, em primeiro lugar, no Banco Central, mas, igualmente bem, no Ministério Público, nos Tribunais de Contas (TCU e TCEs) e nas Agências Reguladoras de Serviços Concedidos.
Desde logo, é importante que se entenda que há uma vasta literatura sobre os padrões de organização do Estado capazes de garantir a máxima eficácia ao planejamento e execução de programas de desenvolvimento. Alexandre Gomide e Roberto Pires sistematizam esse debate e literatura no primeiro capítulo da coletânea organizada por ambo e publicada pelo IPEA sob o título Capacidades Estatais e Democracia. De acordo com os autores, os países nos quais as estratégias desenvolvimentistas foram mais bem sucedidas foram aqueles países em que o Executivo contava grande autonomia e capacidade de ingerência; o que implicava, muitas vezes, a depressão da capacidade de controle, fiscalização e veto dos demais poderes. Foi assim na Coreia, em Taiwan, na Indonésia, em Cingapura e, até certo ponto, na Malásia e no próprio Japão. Daí não se segue que países com regimes democráticos, onde os demais poderes contam com plena autonomia para operarem como legisladores, fiscalizadores e julgadores, tenham fracassado. Mas, nesses casos, o sucesso é função de uma grande sinergia, solidariedade dos Três Poderes e a vigência de um ethos político em que os distintos órgãos do Estado, as lideranças políticas e empresariais e a sociedade civil tomem o desenvolvimento econômico nacional como prioridade.
Creio que não será preciso esclarecer que o Brasil não se caracteriza, nem pela unidade e sinergia dos Três Poderes, nem pelo compromisso coletivo com o desenvolvimento nacional. O que significa dizer que a fragmentação do Estado e a emasculação do Executivo cobra o seu preço na depressão da capacidade de planejamento e execução de um programa consistente e perene de desenvolvimento econômico. A própria história da fragmentação do Estado brasileiro já explicita esse ponto.
A origem dessa fragmentação encontra-se a crise da Ditadura e na reação civil aos desmandos do período autoritário. Mas ela é irredutível a essa dimensão; que vai se expressar na Constituição de 1988, ao ampliar a autonomia dos demais poderes e sua capacidade de controlar, fiscalizar e ajustar as ações do Executivo. Mas Brasil sempre foi pródigo em produzir leis “para inglês ver”. Os instrumentos legais que cerceavam formalmente a autonomia do Poder Executivo na Constituição de 1988 poderiam ter virado letra morta. Não fosse pela traumática eleição presidencial de 1989.
O golpe em João Goulart foi dado com vistas a impedir suas Reformas de Base e impor um novo projeto: o da “modernização conservadora acelerada”. De acordo com o projeto militar vitorioso, os conflitos distributivos internos (interclasses) e externos (entre as frações nacional e internacional do capital) não seriam resolvidos pela redistribuição da propriedade, da renda, dos nichos de mercado e/ou pela regulação da apropriação e remessa de lucros. Os conflitos seriam resolvidos pelo crescimento acelerado da renda, do emprego, do mercado interno e do saldo comercial; o que permitiria incluir os “de baixo” e equacionar as disputas entre os “de cima” sem qualquer alteração substantiva na estrutura da propriedade ou das “regras do jogo”.
Ocorre que esse projeto se esboroou na crise da dívida do final dos anos 70, quando a crise da dívida e a emergência de um novo sindicalismo fez explodir o conflito distributivo de uma forma jamais vista na história pregressa do país, com a emergência da hiperinflação e da aceleração e aprofundamento da concentração da renda.
Nas eleições de 1989 a população expressou a sua profunda desilusão com todas as correntes políticas que, de alguma forma, eram vistas como “tradicionais” e, por isso mesmo, não mais confiáveis. No segundo turno foram colocados dois “azarões” em disputa: um líder sindical de parca educação formal e um populista de direita que se intitulava “o caçador de marajás”. Ulysses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola, Paulo Maluf, Aureliano Chaves, Afif Domingos, Ronaldo Caiado e Roberto Freire foram atropelados e colocados de lado pelo voto popular.
Todos os setores conservadores – mídia, federações industriais e comerciais, lideranças políticas tradicionais de centro, centro-direita e direita – se uniram em torno de Collor. Não por ser confiável. Mas porque Lula era ainda mais perigoso. A vitória no segundo turno foi árdua. Mas ainda mais árdua foi a tentativa de colocar algum freio no “caçador (dos rubis) dos marajás”, que teve que ser derrubado por impeachment. Com a ascensão de Itamar (vice de Collor) colocou-se em andamento o único projeto capaz de barrar a vitória de Lula nas eleições em 1994: o controle da inflação. E nasceu o Plano Real; que deu dois mandatos a FHC.
E, aqui, o ponto crucial: é ao longo dos dois mandatos de FHC que a fragmentação do Estado anunciada na Constituição de 1988 se tornará efetiva. Não há como subestimar a relevância dessa questão. Desde logo, porque ela expõe o equívoco daquelas críticas às gestões petistas baseadas na pretensão de que teria havido uma “opção ideológica” pela autocontenção aos marcos do neoliberalismo. Aqueles que clamam pelo retorno do desenvolvimentismo varguista parecem não perceber a radicalidade das transformações impostas por FHC ao setor público. Senão vejamos.
A perda de autoridade direta do Presidente da República sobre a nomeação do Presidente do Banco Central (doravante, Bacen) foi imposta já na Constituição de 1988. Desde então, a direção desse importante órgão do “Executivo” passou a ser definida da mesma forma que a composição do Supremo Tribunal Federal: o Presidente da República apenas indica um nome. Mas quem aprova – ou não! – é o Senado. Só que, até 1995, a gestão do Bacen se subordinava ao Conselho Monetário Nacional (CMN), onde tinham assento, para além do Presidente do Banco Central: 1) os Ministros da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura, da Indústria e Comércio, do Trabalho e da Previdência Social; 2) os Presidentes do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste; e 3) dois representantes dos trabalhadores. A partir do primeiro ano de seu primeiro mandato, FHC elimina da composição do CMN todos os membros listados acima, com exceção do Presidente do Bacen e dos Ministros da Fazenda e do Planejamento. E, ao longo de 8 anos, FHC trabalhou para consolidar a imagem do Bacen como um órgão “técnico & neutro”, liberado de toda e qualquer injunção políticas. Um FED Tupi.
No mesmo ano de 1995, FHC altera a legislação sobre concessões com vistas a ampliar a participação privada no setor logístico. No ato da assinatura da nova lei, FHC fez a declaração que a mídia transformou numa espécie de “mantra-slogan” de suas duas gestões: “Este é o início do fim da era Vargas”. Também nesse ano, FHC altera a Constituição para suprimir a distinção entre empresa nacional e estrangeira. Desde então, o Estado ficou impossibilitado de promover e dar tratamento privilegiado ao capital nacional ao abrigo da lei. Também alterou a Constituição para permitir o ingresso de capital privado (nacional ou não) nas telecomunicações, na exploração de petróleo e gás e abriu a navegação de cabotagem e a exploração mineral a estrangeiros. A partir de 1996, o foco serão as privatizações. Algumas das maiores e mais rentáveis empresas estatais (Vale, CSN, Usiminas, Telebrás, parte da Eletrobrás, dentre muitas outras) serão privatizadas, assim como praticamente todos os bancos estaduais (no bojo da renegociação das dívidas das UFs) e o Banco Meridional (federal). Na sequência, privatiza a RFFSA e acelera as concessões rodoviárias e portuárias. E, no apagar das luzes de seu segundo mandato, FHC encerra seu programa de “amenorzamento” do Estado com Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF; à qual ele mesmo não foi submetido!), que retira autonomia de gasto do Executivo nas das três esferas da Federação e amplia os poderes de controle e sanção dos Tribunais de Contas da União e dos Estados.
A segunda determinação central da queda da taxa histórica de crescimento do país nos anos recentes também foi uma “contribuição” de FHC: o Plano Real. Na verdade, entre 1981 e 1988, a queda da taxa de crescimento se deu porque a circunscrição externa (vigente em nossos anos dourados, entre 1932 e 1980) atingiu níveis extraordinários com a crise da dívida. E no período entre 1988 e 1993, o baixo desempenho passou pela priorização dada ao combate à inflação (em detrimento do planejamento do desenvolvimento). Mas, a partir de 1993, a folga externa permitiu a introdução do Plano Real, que nada mais é do que a introdução de uma âncora cambial aos preços internos.
Ora, enquanto um sistema de controle da inflação de curto e médio prazo, a ancoragem cambial é eficaz e valiosa. Mas quando a estruturalizamos, a ancoragem cambial transforma-se num problema. E foi isso que fez FHC e que os governos petistas continuaram fazendo. Revisitemos a questão.
Nosso sistema de controle da inflação opera da seguinte forma. Se o “dragão” põe a cabeça de fora, o Bacen eleva a taxa de juros. Para a revolta de 9 em cada 10 economistas de esquerda. Que saem gritando que juros só são eficazes para combater a inflação “se ela for de demanda”. Help, I need somebody.
Essa crítica pretensamente heterodoxa já peca por aceitar que, se a inflação emergisse tal como os monetaristas e demais ortodoxos pretendem que ela normalmente emerja, seria correto elevar os juros. Pergunto: para quê, mesmo? Para cercear a demanda? E desde quando a demanda é definida pelos juros? Só neoclássicos acreditam em uma tese tão simplória! Da perspectiva pós-keynesiana (ou, se se preferir, kaleckiana) a demanda de consumo dos trabalhadores e capitalistas é totalmente inelástica aos juros. Os trabalhadores gastam praticamente tudo o que ganham, independentemente dos juros. Pois ganham apenas o suficiente para se alimentar, vestir e ir ao trabalho. Não têm como poupar. E os capitalistas mantém o seu padrão de consumo estável, independentemente dos juros; justamente porque o consumo é marginal: eles poupam a maior parte de sua renda. O terceiro componente da demanda é o investimento. Mas o investimento é uma decisão estratégica, baseada nas expectativas de longo prazo. Em especial, nas expectativas da expansão (ou não) do mercado e da estratégia de seus concorrentes. O juro de curto prazo pouco afeta as decisões de investimento. Para entender por que o Brasil investe (e cresce) pouco é preciso olhar, primeiro, para as perspectivas de mercado de longo prazo. E, depois, olhar os juros e ver como eles estão afetando essas expectativas.
Desde que foi introduzido o Plano Real que as taxas de câmbio real e nominal flutuam sistematicamente no Brasil: mais parecem umas gangorras. Por que é assim? Porque, a cada espirro no “centro do mundo”, a periferia surta; e antes mesmo de pegar um resfriado, prevê a elevação do dólar e foge para essa moeda, na expectativa de comprá-lo ainda barato. A pressão de demanda eleva seu preço. De sorte que os produtos importados e os exportados sobem de preço. E o dragão levanta a cabeça. Para baixá-la novamente, o Bacen eleva a taxa de juros, amplia o diferencial entre o juro interno e externo e atrai capital volátil do exterior. As reservas sobem, o Bacen coloca parte delas no mercado e o preço do dólar volta a cair. A que custo? Ao custo da ampliação da dívida interna, da asfixia fiscal do Estado, da exposição competitiva da produção interna (que, com o retorno do velho câmbio, volta a ficar exposta aos importados baratos) e da “estruturalização da incerteza” quando à evolução do câmbio e da exposição competitiva no longo prazo.
É claro que, no bojo dessa “brincadeira”, muita gente ganha. Especialmente aqueles que contam com alguma inside information. Um breve exemplo para que não sobrem dúvidas. Se o câmbio real x dólar está 5:1 e o Império espirra, eu, especulador, antecipo que haverá uma fuga para o dólar e ele vai subir de preço. Vendo 5 milhões de reais e adquiro 1 milhão de dólares. Quando o dólar chegar a valer R$ 6,00 eu sei que a taxa de inflação vai subir, pois os importados e os exportados ficaram mais caros. E, por isso mesmo, antecipo que o Bacen vai subir os juros para estimular o ingresso de dólares. A elevação da taxa vai depender do tamanho do ataque especulativo. Imaginemos que a taxa inicial fosse de 10% e o Bacen a eleva para 11% e, depois, para 12% (em 90 dias). Se, na minha avaliação, essa taxa for suficiente para gerar um ingresso expressivo de dólares, eu volto correndo e vendo o US$ 1 milhão que adquiri quando a taxa era 5:1 pela nova taxa (de 6:1), me antecipando à sua previsível queda. E transformo meus dólares em …. SEIS MILHÕES DE REAIS. Ganhei 20% em três meses. … Não é pouca coisa, né? Agora, aplico os seis milhões pelos nove meses restantes. Ao final do ano terei 6,53 milhões na minha conta. Tinha 5 milhões no início do ano e ganhei 30,65% de rendimento em um ano. Quem, em sã consciência, optaria por investir na produção num cenário desses?
Mas, então, somos obrigados a concluir que a elevação dos juros é um instrumento eficaz para o controle da inflação no Brasil? Sério? SIM! SIM! SIM! Pois, ao contrário do que pensam os “monetaristas de esquerda”, ele não se volta à depressão da demanda, mas à atração de capital de curto prazo e ao controle do câmbio.
O problema é o custo social desse instrumento. Ele instabiliza as expectativas de longo prazo e deprime o investimento na indústria. À incerteza estrutural que caracteriza a atividade industrial em função de seu padrão dinâmica e organizacional peculiar (mudanças tecnológicas, na qualidade dos produtos, na emergência de novos competidores, na evolução da taxa de salário e de emprego etc.), no caso do Brasil, temos de acrescentar a brutal instabilidade da taxa de juros (e dos potenciais ganhos especulativos) e da taxa de câmbio (com seus impactos sobre os preços dos importados).
Por fim, juntemos as duas determinações de nosso “reme-reme”: fragmentação do Estado e âncora cambial. Por que a elevação da taxa de juros interna é eficaz para a atração de capitais voláteis? Porque (a despeito do que a mídia diz, dia sim, dia também) o Brasil é confiável. Nosso saldo comercial com a China garante uma geração de caixa (reservas autônomas) que nos coloca como um interlocutor válido nas finanças internacionais. E o que a China compra de nós? Commodities agrícolas e minerais. O que nos permite entender porque a “nova burguesia brasileira” apoia a fragmentação do Estado.
Nos idos tempos de Vargas, o centro hegemônico do mundo eram os EUA. Que é um grande produtor agrícola. A produção agrícola de exportação era fundamentalmente de café. E essa era a base de nossa crônica carência de divisas e restrição externa. Mas a produção paulista de café atendia quase que a totalidade do mercado externo aberto ao Brasil. Havia espaço apenas para uma produção marginal em Minas Gerai e Paraná. Qual era o mercado para produção agropecuária (charque, carne verde, feijão, arroz, mandioca etc.) oriunda de todo o restante do Brasil? O mercado interno. Logo, políticas de apoio à urbanização e industrialização eram políticas que promoviam a expansão da demanda de alimentos e, por extensão, a expansão da rentabilidade da agricultura e da pecuária “não-cafeeira”. E, isso, do Rio Grande do Sul ao Ceará. Esta era a base do PSD, do “Centrão” de Getúlio. E, com todas as ressalvas, era um Centrão bem mais orgânico no apoio ao “desenvolvimentismo” do que o Centrão dos dias atuais.
Atualmente, o produtor agrícola só pede cinco coisas: 1) juros subsidiados para a agricultura; 2) depressão dos custos logísticos; 3) respeito ao sacrossanto direito de desmatar, queimar e grilar; 4) salários baixos; 5) não à reforma agrária e ao MST. Por que esse produtor apoiaria um governo de centro-esquerda? Não há organicidade possível de uma base ruralista nos governos petistas. …. Ou há?
Desvalorização do Real: condição sine qua non da solucionática
Comentei, mais de uma vez, nos artigos anteriores que “quem não compreende os determinantes do câmbio, ainda não atravessou o Rubicão da Economia”. Não tenho dúvidas quanto a isso. O problema é que muitos economistas ainda não fizeram a travessia. Eles parecem acreditar que há um “câmbio natural”, um “câmbio de equilíbrio”. Mas não ouse fazer essa “acusação” a um economista de esquerda. Ele ficará revoltado, se sentirá ofendido e. talvez, até baixe um tanto o nível, citando sua progenitora. … Não se irrite, nem se amedronte. Apenas faça uma pergunta light. Pergunte o que ele acha da ideia (que você ouviu de um amigo) de desvalorizar o real para proteger a indústria da concorrência externa, da concorrência dos bens importados. E sai de perto, pliss.
Na minha experiência, pelo menos 9 em cada 10 saem “do armário” e começam a praguejar palavras de ordem do tipo: “isso seria promover a competitividade por mecanismo escusos, antigos, protecionistas”; ou: “no mundo moderno a competitividade é conquistada através da inovação tecnológica e da inovação em processo e em produto”; e, ainda: “o empresário industrial brasileiro é um preguiçoso, um incompetente, só querem saber de proteção do Estado e salário baixo, não tem cultura de inovação, se dependesse deles, voltaríamos a escravidão.”
Pronto: nada mais belo do que deixar a verdade aflorar. E não tente interferir na possessão. Pode ser Exu, pode ser Pomba-Gira, pode ser o que for. Deixa solto. Afinal, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas, quando ele finalmente se acalmar, conte a parábola para seu amigo.
A PARÁBOLA
Era uma vez um país muito grande do norte do mundo. O nome desse país era “Flor de Maio”. As terras de lá eram muito férteis e “Flor de Maio” era um grande produtor agrícola. Produzia mais trigo, algodão, milho, centeio, lácteos, carne, lã e frutas do que poderia consumir. E vendia parte para os vizinhos. Mas ele também tinha algumas indústrias, pois era muito grande e muito longe de todos, e não podia importar tudo o que precisava. E, por isso, também sofria para exportar o que sobrava. Aí, no último quartel de um certo século (que começa com dez e termina com nove; e mais não digo) ele construiu uns caminhos de ferro e pôs umas máquinas que sopravam fumaça para puxar vagões cheios de bens agrícolas e pessoas. Seu único problema é que faltava gente para fazer tudo o que se poderia fazer por lá. Felizmente, nesse país morava um sujeito de nome Alfaiate. E ele inventou um jeito de treinar os trabalhadores para que eles produzissem mais em menos tempo. O método foi chamado pelo seu nome: alfaiatismo. Como faltavam trabalhadores e eles produziam muito, os salários subiram e o mercado interno começou a crescer a uma velocidade alucinante. Cresceu tanto que um sujeito teve uma ideia: e se produzíssemos sempre o mesmo produto e juntássemos os equipamentos com uma esteira? O resultado foi surpreendente: poupou-se muito com mão-de-obra, o sistema não parava nunca (pois não era preciso alterar o maquinário para a produção de produtos distintos: era um só!) e os custos despencaram. O nome desse cara era Vau, e o método virou “vauismo”. Todas as outras empresas copiaram e, de repente, aconteceu algo milagroso: esse país mágico virou tão produtivo que não havia setor da economia em que se usasse tão pouca mão de obra para produzir qualquer coisa em qualquer outro país do mundo. E ele ficou tão rico, mas tão rico, que sua moeda interna – o “do lar” – foi transformada na moeda do mundo. Quando isso aconteceu, esse país passou a comprar o que bem entendesse de onde bem quisesse apenas entregando, em troca, o seu dinheiro. ELE TROCAVA PAPEL PINTADO POR QUALQUER COISA QUE QUISESSE COMPRAR.
Por favor, leitor. Decore bem a parábola. Não vá errar. E, depois de contá-la ao teu amigo avesso a “manipulações cambiais”, lasca a pergunta abaixo com a cara mais inocente do mundo:
“– Eu só não entendo uma coisa. Se esse país era o país mais produtivo do mundo em tudo, por que ele queria comprar algo produzido fora? Não ficaria mais barato comprar apenas a produção interna? Você poderia me ajudar?”
Mas, pliss, não vá rir. Vê se não dá uma de Mutley. Se for rir, ri por dentro. Em silêncio. E deixa o amigo pensar. Se tu deres algum tempo para ele, ele voltará com a resposta certa. Qual seja?
Os habitantes dos outros países queriam comprar os produtos de “Flor de Maio”. Mas não produziam, nem o “do-lar”, nem produtos baratos para vender para “Flor de Maio”. E, aí, houve um milagre. Como todos queriam “do-lar”, os moradores de outras paragens começaram a disputar os poucos “do-lares” que existiam. E o preço subiu muito. Ficou tão caro que – SURPRESA – algumas coisas que os países vizinhos produziam passou a ter um preço, em “do-lar”, menor do que o preço interno de “Flor de Maio”. E os vizinhos puderam exportar. Assim, adquiriram “do-lares” e puderam comprar produtos de “Flor de Maio”. E o mundo viveu feliz. …. Por algum tempo.
Peço desculpas aos meus leitores mais sisudos, mas eu mesmo acho que rir é absolutamente básico. E ajuda a compreender coisas complicadas. …. O que a “parábola” explica é muito simples. Em termos rigorosos, não existe, nem “manipulação cambial” (e competitividade cambial “artificial”), nem câmbio natural, normal ou de equilíbrio. O câmbio é, ele mesmo, um “truque” para que economias com produtividade desigual possam participar do comércio internacional, vendendo e comprando mercadorias. Toda e qualquer taxa de câmbio é uma espécie de “truque”. Que um leigo não entenda esse ponto é desculpável, mas – parafraseando o poetinha – os economistas que acreditam em “câmbio natural” que me perdoem, mas saber que isso não existe é fundamental. Mais: aquele economista que acredita que a única concorrência “correta e legítima” é a que se realiza através da conquista de novos patamares de produtividade, oriundos da introdução de inovações tecnológicas ocupa, dentro da “triste ciência” o mesmo lugar daquele jogador de poker que não faz qualquer aposta até ter um Royal Flush ou um Quad Aces. Se ele tivesse “apenas” três valetes e apostasse, ele estaria blefando. E blefar no poker é concorrência desleal.
A ampla difusão dessa “leitura” em nosso país tem um selo: FHC. Desde, pelo menos, sua tese de Livre Docência (Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico), que FHC martela na mesma tecla: o empresariado brasileiro não inova porque sempre foi protegido, porque foi “criado em estufa”. Expô-lo à concorrência externa é condição sine qua non da conquista de “competitividade real” de base “tecnológica”. Uma tese que não está equivocada apenas pela incompreensão da função e funcionamento do câmbio. Seu erro advém da inversão de determinações: não há e não pode haver inovação sem investimento. E não há investimento em condições de incerteza. Ora, em um país que – de Irineu Evangelista de Souza a Emílio Odebrecht, passando por Delmiro Gouveia e José Eduardo Andrade Vieira – os maiores e mais audazes empresários nacionais são “falidos” (ou, pelo menos, são presos, difamados internacionalmente pela ação do Estado e obrigados a vender parte de seu conglomerado para sobreviver, como Wesley Batista da JBS Friboi e Leo Pinheiro da OAS), pretender que o “problema nacional” seja o excesso de proteção e a excessiva segurança com relação ao futuro é uma piada de péssimo gosto.
Na verdade, o problema do Brasil é exatamente o oposto. Entre 1932 e 1980, o valor agregado bruto da indústria de transformação crescia a 9% ao ano. Lembremo-nos que o que caracterizava a economia nacional nesse período era a escassez de divisas e a dificuldade para importar, inclusive equipamentos e insumos industriais.
Pergunto: como é possível ampliar a produção industrial a uma taxa anual de 9% se a disponibilidade de insumos e equipamentos cresce a uma taxa inferior? …. Só há uma forma: poupando recursos e ampliando a produtividade geral dos fatores. Vale dizer: inovando. E por que se inovava? Porque, houvesse o que houvesse, de Vargas a Geisel, fosse quem fosse o Presidente, havia uma ÚNICA certeza sobre o “amanhã”: o dólar (e qualquer outra divisa) foi, é e será escasso e caro. Qualquer empresário que ingressasse num determinado setor – seja como pioneiro, seja em setores consolidados – sabia que os similares importados seriam caros. A despeito das mudanças políticas, dos subsídios e apoios preferenciais aos “mais amigos do rei de plantão”, todo e qualquer empresário tinha pelo menos uma certeza: a concorrência interna seria árdua, mas a externa seria tênue. contra a concorrência externa.
Isso acabou. Com a fome da China por commodities, o Brasil passou a controlar a inflação por ancoragem cambial.
Mas a instabilidade cambial e as flutuações na exposição competitiva aos importados é apenas uma parte do problema. FHC colocou esse bode na sala. Os governos petistas não o retiraram do nobre recinto. Mas trouxeram uma galinha, um ganso e um porco para o convescote. A galinha é a política de redistribuição de renda através da elevação dos salários nominais acima da produtividade. Fica como o diabo gosta: os industriais não podem ampliar os preços em função do câmbio e da concorrência externa. Mas o governo amplia os seus custos diretos todos os anos por decreto.
O ganso são os dispêndios com a seguridade social, do Bolsa Família ao SUS, passando pela Previdência Social propriamente dita. Da perspectiva empresarial, não importa se esses dispêndios são constitucionais. Se são, que se mude a Constituição (ou ignoremo-la, como já se fez tantas vezes!). O que importa é que o Bolsa Família deprime (de forma discreta, mas efetiva) a oferta de mão de obra e eleva o custo de oportunidade da ocupação mal remunerada. O que importa é que os dispêndios com saúde e previdência deprimem a disponibilidade de recursos para os gastos discricionários e, por extensão, deprime a capacidade de investimento do setor público e o enfrentamento dos gargalos logísticos da interiorização produtiva do país. Sem falar do temor associado ao crescimento de uma dívida pública turbinada por taxas de juro escorchantes. Do jeito que a coisa vai, a promessa de equilíbrio primário (com déficit “apenas” nominal) fica menos crível a cada dia que passa.
E o porco é a polarização política e a incapacidade do Estado (fragmentado) orientar o rumo da nação. O Estado brasileiro nunca foi uma bússola muito confiável. Mas, hoje, ele mais parece uma biruta de aeroporto. Desde o primeiro ano do primeiro mandato de Lula que não param de explodir “escândalos”. E não importa – do ponto de vista do empresariado – se eles são reais, inventados ou um misto dos dois. Para o empresário que sonha como a “âncora perdida” – o câmbio, que hoje ancora a inflação através de sua flutuação! – a “esbórnia institucional” é indissociável do fato da existência do PT. Afinal, quando ele não está no governo, está próximo de conquistá-lo no futuro embate eleitoral. O que se pode esperar disso? Mais mensalões, mais petrolões, mais Lava-Jatos, mais prisões de grandes empresários, mais impeachment, mais 8 de janeiros. Para não falar do fantasma que está ali na esquina: o que é que vai acontecer quando as investigações chegarem nos grandes financiadores do 8 de janeiro? …
Estou trazendo esses elementos porque, sem eles, não é possível entender uma questão central: é falso o discurso de que o empresariado é “mal-agradecido”, pois os governos petistas teriam distribuído apenas benesses e receberam ingratidão. Os governos do PT mantiveram a exposição competitiva cambial intata, ampliaram os custos salariais e de contratação (via depressão da oferta de mão de obra por suas políticas assistenciais), não têm investido adequadamente em infraestrutura, coíbem o desmatamento e as queimadas e tentam equilibrar o orçamento apertando a fiscalização e impondo limites e controles à evasão fiscal. Isso está muito longe de ser “um saco de bondades”.
Se o PT – que é o maior partido da frente de centro-esquerda que nos governa – não conceder algo de substantivo ao empresariado, ele está fadado a ver a oposição às suas políticas amplificada ainda mais. E sabemos bem quais são as alternativas que se apresentam: Temer, Tarcísio, Bolsonaro, Marçal, Lira e outras figuras do mesmo teor e qualidade.
Parece-me evidente que não se pode abrir mão das políticas sociais sem abrir mão da própria identidade. O que pode – na verdade, deve, urge! – ser mudado? A política monetário-cambial e, por extensão, a exposição competitiva sobre a indústria. A equação juros altos, real forte, indústria exposta.
É evidente que a equação monetário-cambial vigente não vem sendo sustentada desde 1994 a troco de banana. Alterá-la envolve custos não desprezíveis. O principal, o maior dele, é o impacto potencial sobre os preços. Corre-se o risco de uma retomada da inflação e, por extensão, da depressão dos salários reais e retomada da concentração de renda. Como já disse, vou tratar desse imbróglio no próximo artigo, a ser publicado dentro de 15 dias. Por enquanto, me dedico a outras questões e senões que são usualmente esgrimidos contra a proposta.
Não há qualquer dúvida de que a desvalorização do real teria desdobramentos positivos sobre a rentabilidade industrial e – se houvesse confiança na perenidade da nova política – sobre as expectativas empresariais com relação ao mercado futuro. O que estimularia o investimento e a introdução de inovações.
Porém, os industriais não são os únicos a ganhar com um real desvalorizado. O agronegócio também seria amplamente beneficiado. Afinal, se uma saca de grão está sendo negociada no mercado internacional por US$ 60,00, a uma taxa de câmbio de 5:1, o produtor recebe R$ 300,00 no mercado interno. Se o câmbio passa para 7:1, seu retorno passa a ser de R$ 420,00 pela mesma saca.
Ora, na perspectiva de diversos analistas, se tornarmos a rentabilidade do agronegócio ainda maior, estaremos estimulando a ampliação do desmatamento, da sojificação, da pecuária bovina (com todos os seus desdobramentos na produção de metano e impactos climáticos), da ocupação da Amazônia (com graves impactos deletérios sobre os povos originários e, da interiorização e ramificação dos sistemas logísticos rodoviário, ferroviário e aeroviário por regiões com ecossistemas frágeis, onde a presença do Estado é incipiente e esparsa e onde a mineração e o garimpo ilegal campeiam. Como isso não bastasse, estaríamos ampliando a expressão econômica e política de um estrato social vinculado ao latifúndio que é, cronicamente, ignorante, conservador, inimigo da reforma agrária e dos direitos dos povos originários e que se mostrou uma das principais fontes de apoio e financiamento do bolsonarismo e de seus devaneios golpistas. Mais, dizem os mesmos críticos dessa proposta: as vantagens competitivas e de rentabilidade do agronegócio são tamanhas que a desvalorização da moeda nacional teria parcas consequências sobre a indústria, pois os capitais se jogariam “afoitos” na produção, beneficiamento, transporte e comercialização de commodities agrícolas e minerais.
Mais uma vez, ouso discordar. Comecemos pelo último dos argumentos: a desvalorização não estimularia a indústria, mas apenas o agronegócio. Há dois problemas nessa tese. O primeiro é a confusão entre “setor” e “cadeia”. É impossível estimular a agropecuária sem estimular, simultaneamente, frigoríficos (no caso da produção de proteína animal), indústria automotiva (para transporte), indústria ferroviária (e siderúrgica, e mineradora), sistema financeiro, comércio atacadista, comércio varejista (pela criação de novos empregos e pela geração de renda), comércio e produção de combustíveis (não necessariamente fósseis: essa é uma questão que depende das políticas públicas de energia!), hotelaria & turismo & lazer (e não só para caminhoneiros), dentre inúmeros outros elos da cadeia.
O segundo problema é a origem “cardosiana” da tese de que o empresariado prefere, sistematicamente, a segurança e a liquidez (que as aplicações financeiras e em bens de raiz, como a terra, emprestam) à rentabilidade e à inovação industrial. Essa tese não passa no teste da história. O Grupo Ipiranga não transitou da refinaria e da produção de fertilizantes para a comercialização e distribuição de combustíveis por “preferência pela segurança e liquidez”. Mas porque o Estado impediu o crescimento de sua refinaria, liberou as importações de fertilizantes e deu subsídios a concorrentes estrangeiras. A SLC não vendeu sua planta de colheitadeiras e equipamentos agrícolas e transitou para a produção agropecuária por “preferência pela segurança e liquidez”, mas porque a política cambial e industrial de FHC inviabilizava a sobrevivência de seu braço industrial no médio e longo prazo. As opções eram duas: vender ou falir. Qual você preferiria?
A outra dimensão da crítica – a de que a elevação dos ganhos do agronegócio levaria a uma expansão do mesmo em termos de área, aprofundando a invasão de ecossistemas frágeis – me parece equivocada por subestimar o impacto de uma tal medida sobre o poder de negociação do governo com os agentes privados da cadeia. O ponto de partida é simples: o compromisso primeiro da direita em nosso país é com o financismo. Ela é (e continuará sendo) incapaz de propor qualquer alteração na política de controle inflacionário com base na equação juros-câmbio por um simples motivo: sua principal base de apoio são os grupos que se beneficiam dos juros escorchantes e dos ganhos especulativos associados à volatilidade cambial. Apenas os agentes sociais comprometidos com o desenvolvimento industrial e a soberania nacional podem pôr fim à “farra financeira” vigente. Só a centro-esquerda pode construir o “bloco histórico” necessário à articulação e sustentação de uma política em que a ampliação dos ganhos produtivos (em detrimento dos ganhos rentistas) seja perene e se articule à aceleração do crescimento da produção, do emprego e da renda. E essa política passa, necessariamente, pela desvalorização do real. Ora, essa é a base necessária (mas ainda insuficiente) para a criação de um novo “Centrão Orgânico”; como o que sustentava Vargas através do PSD.
Aliás, esse é, talvez, o argumento mais forte para buscar alguma articulação com esse (controverso) segmento da burguesia nacional: o “Consulado Vargas” foi marcado pela instabilidade. Mas, também, pela longevidade. Ele alcançou ultrapassar a própria vida de Vargas, estendendo-se de 1930 a 1964. E essa longevidade NÃO resultou, nem da força do movimento sindical dos trabalhadores, nem da unidade da burguesia industrial em torno do caudilho “com pele de muçum”. Ela se assentou na fidelidade do seu Centrão: o PSD. Urge construir um “Centrão orgânico”. Ou a frente antifascista do Governo Lula-Alckmin tem grandes chances de fracassar. E é mais fácil consolidar uma aliança com segmentos sociais em que a solidariedade coletiva supera a concorrência (no sentido schumpeteriano: enquanto disputa acirrada por fatias restritas de mercado) do que onde emerge o oposto. Nesse sentido, a agropecuária é mais aberta à solidariedade de classe do que a indústria. Para aqueles que duvidam dessa possibilidade, peço que se lembrem de Kátia Abreu ao lado de Dilma no seu discurso de despedida da Presidência após o impeachment e do apoio (nada) discreto de Blairo Maggi à candidatura de Lula em 2022.
Em suma: se – e somente se! – a esquerda e o centro político nacional, sob a liderança do maior partido do bloco – o PT – conseguirem articular, propor e implementar uma política perene e sustentável de desvalorização do real e, por extensão, de queda da exposição competitiva industrial e de expansão da rentabilidade o agronegócio estarão constituídas as bases para uma ampla rearticulação política nacional na qual o agronegócio (ou, pelo menos parte dele) ingresse como interlocutor válido e comprometido. Caso contrário, consolidaremos a unidade das classes proprietárias em torno da ultradireita no país.
Por fim, avaliemos uma outra crítica usual à proposição de fundar a “solucionática” no abandono da ancoragem cambial; vale dizer: na desvalorização do real e na construção de uma nova política de controle da inflação. Muitos autores apontam para a resistência que previsível de um segmento social que, se não tem a expressão econômica dos anteriores, conta com enorme expressão política: a classe média. Vale lembrar que foi ela que esteve na base das “juninas de 2013”, que alavancou o lava-jatismo e que deu as bases para o impeachment de Dilma em 2016.
Não há como subestimar esse problema. Tal como veremos no texto a ser publicado dentro de 15 dias (marcando o encerramento dessa série), é mais difícil impedir a queda de poder de compra da classe média do que da classe operária numa eventual desvalorização do real. E parcela não desprezível desse segmento social não irá perdoar se o governo ampliar de forma significativa os custos de invernar na Europa (aproveitando o verão de lá) e de comprar ternos em Miami trimestralmente. É preciso estar preparado para essa reação. Que virá, inexoravelmente. E virá fantasiada de “oposição à esquerda”, com sólido apoio da mídia tradicional, da Rede Globo à Folha de São Paulo.
Para enfrentá-la é fundamental incorporar ao “bloco histórico” antifascista segmentos da classe média que, até agora, vem sendo negligenciados pelo lulo-petismo e pela frente de centro-esquerda no poder. Pensamos, aqui, fundamentalmente em dois segmentos.
O primeiro deles é a fração não especificamente conservadora das igrejas evangélicas. Nesse sentido, vale muito a pena ler a entrevista que o Pastor Oliver Costa Goiano, Coordenador do Núcleo Nacional dos Evangélico do PT, deu recentemente ao UOL frisando a necessidade da esquerda “descer do salto alto” e aprender, de fato, a respeitar a diversidade cultural. Ou será atropelada pela ultradireita dentro em pouco.
O segundo segmento com o qual urge dialogar é o de uberizados, microempreendedores individuais e de Micro e Pequenos Empresários. A esquerda tem muito a oferecer a esses agentes sociais que vicejam no bojo do desemprego estrutural e da automação capitalista contemporânea. Mas, infelizmente, parcela expressiva da esquerda cultua o progresso técnico poupador de mão de obra e desvaloriza aqueles agentes que emergem como o “resto” desse processo de “modernização capitalista”. Pablo Marçal agradece tanto descaso.
Mas ficamos por aqui. Até porque esses agentes “sobrantes” do capital estão no centro do nosso próximo artigo.
Leia também a Parte 6: há solucionática?
*Carlos Águedo Paiva é Economista, Doutor em Economia e Diretor da Paradoxo Consultoria Econômica.
Foto de capa: Carlos Águedo Paiva / IA