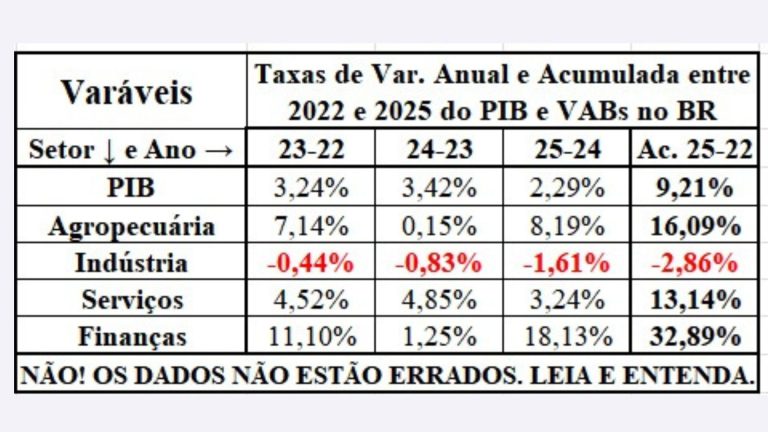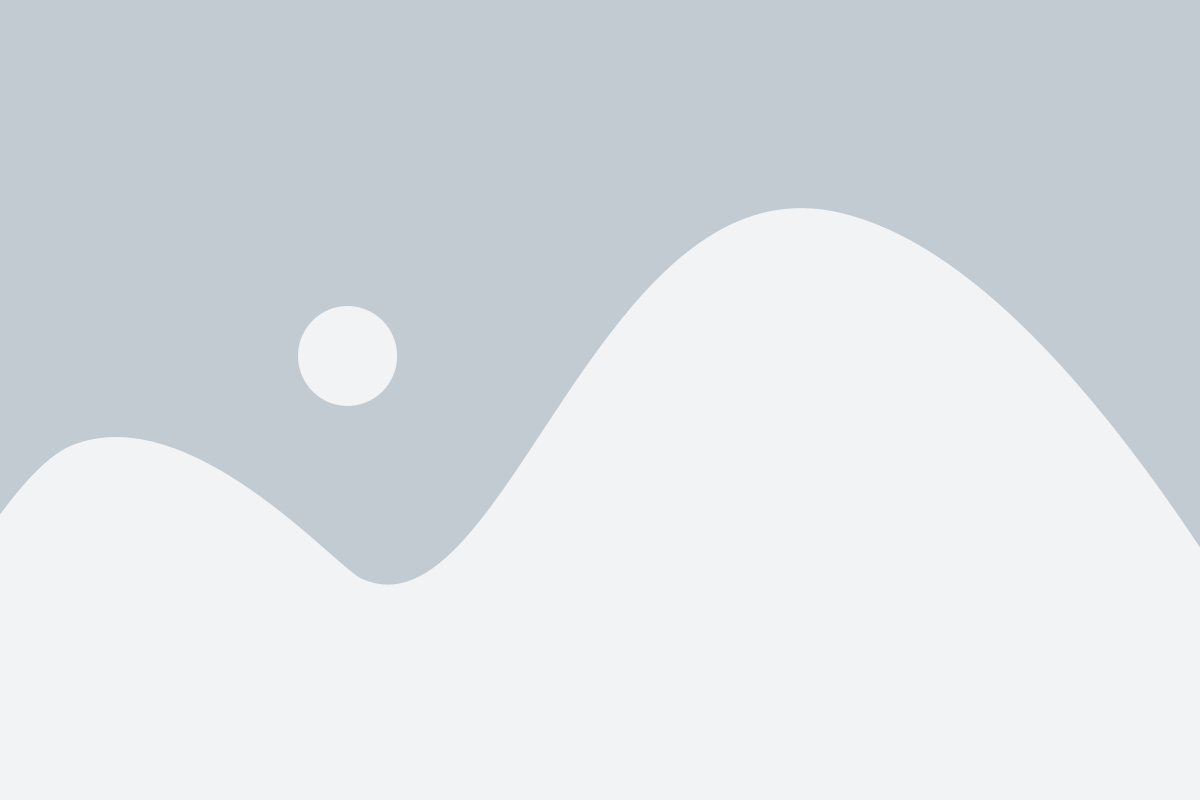De EDELBERTO BEHS*
Com promoções tipo black friday, black month e outros quetais Brasil afora, o setor do comércio indica que o idioma de Camões não tem como anunciar liquidação, oferta especial, preço mais baixo. Reforça, assim, o complexo de vira-lata ao qual que brasileiros e brasileiras adoram recorrer. Trata-se de bajular e valorizar o que vem de fora. O que vem de fora sempre é melhor, de mercadorias a sabedorias.
Ora, o Dicionário Houaiss, edição de 2001, listou 400 mil palavras em português! Se nenhuma delas consegue abalar o nosso complexo vira-lata, tão impulsionado pelo comércio, a única coisa que resta a dizer é: Stop (para não usar um palavrão em inglês de uso corrente em terras tupiniquins). Será que produto anunciado em black friday vende melhor, se pronunciado em inglês, do que uma oferta especial em português?
Foi o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues que cunhou o complexo de vira-lata depois que a seleção canarinho perdeu para o Uruguai a Copa de 1950 em pleno Maracanã. Mas ele esclareceu que o complexo não se limitava ao futebol. Vale para todos os setores da vida social. “O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem”, dizia.
O black friday indica que continuamos colonizados culturalmente, isso desde a chegada dos europeus às terras de Pindorama. O colonizador já foi português, já foi holandês, já foi francês, já foi inglês e agora adoramos copiar estadunidenses. E o pior, muitas vezes a gente nem se dá conta!
Lembro das matinés dominicais no Cine Guarani, em Estrela, onde passei a infância, dos filmes com o mocinho John Wayne liderando as tropas de uniforme azul escuro, do exército da União dos Estados Unidos, combatendo nações indígenas como comanches, navajos, xeroques e outras. Melhor dizendo, o solado branco, de gente de bem, invadindo terras ocupadas por esses povos desde tempos ancestrais.
E nós, meninada sem noção alguma do que estava por detrás de tais películas, batíamos com os pés no chão, fazendo torcida para os comandados de John Wayne dobrarem os guerreiros que lutavam de forma desigual, enfrentando soldados armados de fuzis com arcos e flechas. A colonização simbólica começava ali.
A colonização, sutil, também usou, por 27 anos ininterruptos, as ondas do rádio com o Repórter Esso, “a testemunha ocular da história”, segundo o seu “slogan”. O programa entrou no ar pela primeira vez em agosto de 1941, como uma iniciativa da política internacional estadunidense de cooperação internacional, para fazer gente à propaganda nazista.
Durante e depois da Segunda Guerra Mundial, o material divulgado pelas rádios Nacional, do Rio de Janeiro, Record, de São Paulo, Farroupilha, de Porto Alegre, Rádio Clube de Recife e a Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte, era redigido, por longo período, por agências noticiosas dos Estados Unidos. Tratava-se de informação dirigida, propaganda pura do Tio Sam!
No período mais duro da pandemia do Covid-19 brasileiros e brasileiras tiveram que “aprender” um novo conceito lido, ouvido e assistido quase que diariamente nos jornais, sites, emissoras de rádio, de televisão: o lockdown! Será o nosso idioma tão pobre que não tem palavra alguma para substituir o lockdown? E esse pessoal que não conhece inglês, se inteirava como da novidade?
Tem gente que fala mal e porcamente o português – como um tal senador que se refere à “conja” e busca as “benções” de Ruy Barbosa. E a mídia, o comércio, insiste em aplicar termos ingleses para leitores nacionais! Pronunciado em inglês, com boca cheia – lockdown – talvez ganhe em dramaticidade. Afinal, usar confinamento, clausura, isolamento, qual a graça!
Vejam: o aparelho de televisão, segundo o IBGE, está presente em 97,2% dos lares brasileiros. Ou seja, tem uma abrangência quase que total neste vasto território. E o pessoal da Globo, da CNN, da Band, comentava, noticiava, falava de lockdown, verbete naturalmente compreendido pelas rendeiras do Nordeste, pel@ indígena amazonense, pel@ gaúch@ dos pampas, pel@ quilombola… E quantas outros verbetes seriam dispensáveis se recorressem ao português!
Façam as contas: quantas palavras vocês conhecem, já leram ou viram em anúncios na TV, em “outdoors” – painéis ao ar livre – que estão grifadas em inglês. Ir para um “shopping center” então – centro comercial está fora dos nossos dicionários! @ cidad@o tem que levar consigo um amansa burro para entender toda aquela parafernália de chamadas: off, sale, store, shoe store, t-shirts, clothes, wear, pay, buy e por aí afora.
No “shopping center” vocês encontram ainda roupa “fashion” “on sale”, “notebook” em “show rooms”, computadores que facilitam o ingresso de “username” e “password” e que permitem o uso de até três “pen drives”, com uma entrada para “Dvd” e outra para “CD-Room”.
Saiam do centro comercial e dirijam-se à “street”. Vocês podem degustar um “milkshake” ou comer um “hamburger”, um “nutritive cheesburger”, um “hot-dog”, ir até um “fast food” ou frequentar um “self service”. Tomar um guaraná “diet” ou “light” ou, se gostar de uma bebida alcoólica, pedir um “drink”. Naauele seminário sobre linguística aproveitem o coffee brake para tomar um latte.
Em casa, assistam o seu time jogar no domingo à tarde pelo “pay-per-view” ou curtam um “show de rock” para fugir do “stress” da semana, diante de uma TV que tenha “slow motion” com “zoom”. Para suprir a fome peçam comida por “delivery”.
E se depois de todo esse anglicanismo – isso se não surgirem novidades ainda no rastro do covid-19, da Copa do Mundo, das transações comerciais e financeiras – vocês não tiverem um “insight”, “deletem” o que leram e continuem torcendo para seu time de “handball ser o “champion” da temporada.
*Professor, teólogo e jornalista.
Imagem em Pixabay.
As opiniões emitidas nos artigos expressam o pensamento de seus autores e não necessariamente a posição editorial da Rede Estação Democracia.