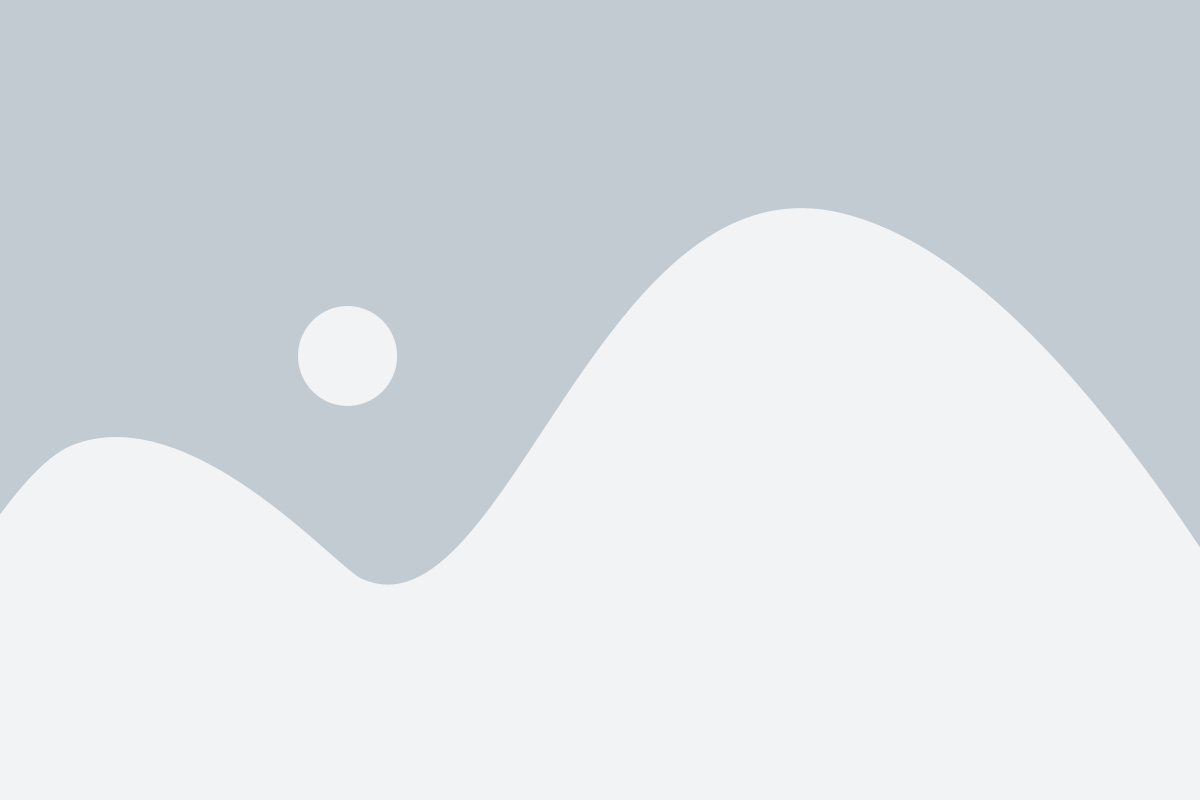Por BRUNO FERREIRA KRAMER,*
Voluntariado na comunidade Três Unidos, com o povo Kambeba: entre a boa intenção e a escuta necessária
Eu fui pela Karibu — uma iniciativa que se apresenta como negócio social de viagens com propósito e voluntariado ético, conectando pessoas a projetos sociais com escuta e corresponsabilidade. E, ainda assim, nada me preparou para o que a Amazônia faz com a gente quando a gente realmente chega: não como turista, não como “salvador”, mas como alguém disposto a aprender que território não é cenário — é vida.
Passei uma semana na Amazônia. Dito assim, parece pouco. Turístico. Protocolar. Mas a verdade é que uma semana na Amazônia desloca certezas, desmonta discursos prontos e expõe, sem filtro, o abismo entre o Brasil que se imagina e o Brasil que se vive — especialmente quando se convive com povos originários, como o povo Kambeba, na comunidade Três Unidos.
Cheguei por Manaus. Cidade abafada, intensa, contraditória. O calor não é apenas climático — ele é social, político, simbólico. Manaus impressiona pela quantidade de igrejas. Fé em excesso, direitos em falta. Antes mesmo de entrar no rio, o Brasil já se apresentava em suas camadas mais desiguais.

De Manaus, seguimos com apoio logístico e estrutura de permanência da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) — um ponto essencial para quem transita entre cidade e interior do Amazonas. A FAS é uma organização da sociedade civil que tem como missão contribuir para a conservação da Amazônia valorizando a floresta em pé e sua biodiversidade, ao mesmo tempo em que busca melhorar a qualidade de vida das populações amazônicas.
Mais do que “apoio”, o que a FAS viabiliza é algo raro no debate amazônico: infraestrutura de permanência. Porque na Amazônia, muitas vezes, o que não existe não é “boa vontade”; é logística, energia, continuidade, mediação, planejamento e presença constante. Quando instituições conseguem operar como ponte — sem sequestrar protagonismos, sem transformar a comunidade em vitrine e sem impor agenda — elas ajudam a sustentar o que o Estado frequentemente abandona: o cotidiano.
O grupo de voluntários se formou antes de chegar. Aos poucos, o coletivo foi se entendendo — gente de vários lugares do Brasil, com diferentes formações e motivações: fé, militância, política pública, curiosidade, desejo genuíno de contribuir. E isso importa dizer: não existe “voluntário ideal”. Existe um coletivo diverso. O desafio não é padronizar as pessoas — é impedir que a diferença vire disputa de protagonismo. Boa intenção, sozinha, não sustenta intervenção nenhuma.

Na comunidade, o tempo muda. O olhar muda. O corpo muda. O silêncio ensina. A floresta não é paisagem, é sujeito. Há horário para os bichos descansarem. Há sons diferentes de dia e de noite. A curupira não é folclore: é ética ambiental. O boto é aviso. O banho de rio não é lazer, é cotidiano. A trilha com o Tuxaua Valdemir (líder da comunidade) não é turismo, é história viva. “A gente usa essa palha para fazer nossa casa (o que vocês chamam de imóvel, né?) ”, disse ele, numa frase simples que desmonta toda a lógica da propriedade privada como única forma de existir no mundo.
A cultura Kambeba não é detalhe do território — ela é a própria forma de organização da vida. O povo que hoje se reconhece como Kambeba carrega a memória dos Omágua, povo das águas, das grandes várzeas do Amazonas, historicamente distribuído ao longo de centenas de quilômetros de rios. Antes da invasão colonial, eram centenas de aldeias, milhares de pessoas, sistemas produtivos complexos, domínio da navegação, da pesca, da agricultura de várzea e da construção de canoas e casas adaptadas ao ciclo das cheias.
A história que se escuta na comunidade Três Unidos não começa ali. Ela atravessa deslocamentos forçados, epidemias, catequização, escravização, silenciamento e medo. Por muito tempo, dizer-se Kambeba era perigoso. A língua foi calada para sobreviver. Muitos passaram a se apresentar como “caboclos” para escapar da violência. O apagamento não foi escolha — foi imposição.
Ainda assim, a memória resistiu.
Os mais velhos contam que o território sempre foi organizado a partir do rio. A pesca, a coleta, o plantio de mandioca, banana, milho, batata-doce e frutas obedeciam ao tempo da cheia e da vazante. Quando a terra alagava, havia técnicas de armazenamento dos alimentos. Quando secava, o cultivo recomeçava. A floresta nunca foi inimiga — sempre foi aliada.
A língua Kambeba é parte central dessa identidade. Não é apenas comunicação, é modo de nomear o mundo. Quando a língua silencia, o mundo também perde palavras. Hoje, há um esforço consciente de retomada: reaprender a falar, ensinar às crianças, registrar histórias, manter viva uma forma própria de existir. Recuperar a língua é recuperar dignidade.
A organização social da aldeia também revela outra lógica de poder. O Tuxaua não governa por imposição, mas por reconhecimento. Sua função é cuidar do território, mediar conflitos, representar o coletivo e proteger a memória do povo. Liderança aqui não é cargo — é responsabilidade contínua.
As casas, feitas com palha e madeira da própria floresta, não são “imóveis” no sentido jurídico do termo. São extensões do território, pensadas para o clima, para o vento, para o tempo das águas. A noção de propriedade privada, fixa e mercantilizada, simplesmente não dá conta de explicar esse modo de morar.

As festas, danças e rituais não são folclore. São política viva. Os Kambeba realizam grandes festas coletivas, com danças, cantos e instrumentos próprios. As danças marcam o tempo, celebram a colheita, fortalecem alianças e preparam a comunidade para a defesa do território. O corpo sempre foi linguagem.
Os grafismos com jenipapo, vivenciados durante o voluntariado, fazem parte dessa cosmologia (e ali veio uma lição silenciosa). O grafismo não pode ser molhado nas primeiras horas. Não é estética. É proteção, equilíbrio, cuidado espiritual. A tinta retira energias negativas do corpo; quando molhada, leva embora o que precisa ir. Não é algo ruim, é necessário. A floresta também cuida do invisível, algo que o pensamento ocidental insiste em ignorar. A marca só se fixa quando o processo é respeitado. Talvez essa seja a maior metáfora da semana: voluntariado que não respeita o tempo do território tende a desaparecer rápido, ou pior, deixar marcas erradas.
A alimentação carrega o mesmo princípio. O Fani, feito com peixe e macaxeira em folha de pariri ou bananeira, não é prato típico para turista. É tecnologia alimentar ancestral, pensada para o coletivo, para a conservação, para a partilha. Assim como a farinha, os peixes preparados de diferentes formas, cada comida guarda conhecimento acumulado por gerações. Falar em soberania alimentar na Amazônia sem reconhecer esses saberes é negar ciência indígena.
A própria história da comunidade Três Unidos revela isso. A aldeia se reorganizou a partir da luta pelo território, da abertura de roças, da construção coletiva das casas, da escola e do posto de saúde. Nada foi dado. Tudo foi conquistado com organização, memória e política.

Preservar a cultura Kambeba não é preservar o passado.
É garantir futuro.
Ouvi histórias duras. Histórias em que o direito à vida depende da distância. Distância do hospital. Distância da ambulância. Distância da política pública. Distância do Brasil oficial. E, ainda assim, há potência. Há organização. Há futuro em construção.
Energia solar chegou à aldeia através de política pública. O posto de saúde de referência é o da própria comunidade, com técnica de enfermagem do território — e isso importa: não é apenas atendimento, é pertencimento, continuidade, confiança. Houve chegada de médicos para atender ribeirinhos. Crianças brincam, jogam bola entre comunidades, tomam banho de rio, aprendem com a floresta. A escola se chama Luz do Saber — nome que diz mais do que muitos planos nacionais de educação.
Participamos de atividades simples e profundas: primeiros socorros; rodas de conversa; aulas de empreendedorismo; mutirões; limpeza da comunidade; pintura de casas; troca de saberes. E aqui eu volto ao que deveria ser um princípio de qualquer voluntariado: Ubuntu. “Eu sou porque nós somos. ” Uma ética do coletivo que recusa a vaidade de “fazer pelo outro” e exige o compromisso de caminhar junto. Ubuntu, na Amazônia, não é frase bonita: é método de sobrevivência. É comunidade se sustentando
apesar do abandono histórico. É o contrário do individualismo que tenta transformar tudo em produto, conteúdo ou conquista pessoal.
Também fizemos uma conversa sobre compostagem — algo que nunca haviam feito daquela forma, mas que foi entendido rapidamente. Não por ser “inovação”, mas porque dialogava com algo que já existe ali: cuidado com a terra como prática cotidiana, e não como slogan.
Existe um risco constante de colonização discursiva: transformar povos originários em plateia de projetos que não nascem deles; reduzir saberes milenares a “identidade visual” para inglês ver; tirar foto “com índio” como se ainda estivéssemos no século XIX; achar que estar ali é “ajudar” — quando, muitas vezes, o gesto mais ético é acompanhar.
Nem tudo que emociona precisa ser capturado. Nem toda experiência precisa virar conteúdo. Nem todo corpo é paisagem.
Nesse território, a presença de Tainara atravessou tudo com força. Mulher, jovem, indígena, liderança da comunidade, ativista vinculada ao UNICEF, referência viva de luta e resistência. Tainara carrega no corpo e na fala o enfrentamento diário a uma estrutura machista — dentro e fora dos territórios — que ainda tenta impedir mulheres indígenas de estudar, circular, liderar e decidir. Conseguir estudar, para uma mulher indígena jovem, não é detalhe: é ato político. Ela fala por outras meninas que ainda precisam negociar o direito de aprender. Ela representa uma geração que quer permanecer no território sem abrir mão do futuro.
Falamos sobre educação, cotas nas universidades federais do Amazonas, as barreiras de acesso ao ENEM, a logística quase impossível para jovens que precisam chegar até Manaus para estudar. E, apesar de tudo, há gente estudando, se formando, voltando, mostrando que é possível — ainda que o Estado siga chegando pouco, tarde ou errado.
E há uma camada que aparece pouco fora da Amazônia: o solo. Grande parte dos solos da região é mais ácido, arenoso e pobre em nutrientes, o que dificulta a produção agrícola convencional. Plantar alimento de qualidade ali não é simples, nem imediato. Exige pesquisa, manejo adequado, sistemas agroflorestais, ciência aplicada ao território. Não se resolve com soluções importadas de outras regiões do Brasil. A floresta não precisa só de discurso ambiental: precisa de ciência territorializada, assistência técnica continuada e política pública que entenda as limitações e as potências reais da Amazônia.
Falamos de desmatamento, de madeira contrabandeada, de aliciamento de ribeirinhos pela fome. Tiram as pessoas do território prometendo dinheiro rápido. O desmatamento não acontece sozinho
— ele é empurrado pela desigualdade. Reflorestamento exige planejamento, produção de mudas, assistência técnica e políticas públicas continuadas.
A comunidade Três Unidos é viva, organizada e resistente — mas ainda depende fortemente do turismo e do artesanato como principais fontes de renda. Isso escancara um limite estrutural: não basta sobreviver. É preciso ampliar possibilidades. Mais políticas públicas, mais incentivos produtivos, mais assistência técnica, mais educação contextualizada, mais presença do Estado. Não em gabinetes — no território. O governo precisa chegar, caminhar, ouvir, dormir, suar, entender de perto como se vive.
E foi nesse ponto que a semana ganhou um peso simbólico ainda maior.
No dia 9 de dezembro, enquanto estávamos ali — debatendo educação, saúde, território e futuro
— avançou no Brasil a aprovação do chamado marco legal da demarcação, um marco sentido por muitos como retrocesso e ameaça concreta à segurança territorial dos povos indígenas. Coincidência? Não sei. Mas o contraste é brutal.

O Brasil, sediou a COP30, em Belém do Pará, em novembro deste ano (2025). O mundo discutiu clima, biodiversidade, futuro do planeta. E, ao mesmo tempo, o país empurrou decisões que fragilizam justamente os povos que mais protegem a floresta. Não existe política climática sem justiça territorial. Não existe “economia verde” possível se o chão indígena segue em disputa por quem nunca o pisou.
O Tuxaua falou de medo. Medo real. Porque decisões tomadas longe do território chegam ali como ameaça imediata. Porque a burocracia, quando vira arma, mata do mesmo jeito que a distância mata.
E enquanto isso, o planeta esquenta.
Ano após ano, a cada COP do clima, os alertas se repetem: aumento da temperatura média da Terra, eventos extremos mais frequentes, enchentes, secas severas, incêndios, colapsos ambientais. Os desastres se intensificam — e deixam de ser “naturais”. Tornam-se políticos. Porque não são obra do acaso, mas resultado de decisões (ou omissões) humanas.
Estar na Amazônia torna impossível ignorar essa contradição. Enquanto se anunciam metas em salas refrigeradas, comunidades sentem na pele as mudanças no regime das chuvas, no comportamento dos rios, na pesca, na produção de alimentos. A pergunta aparece inevitável: o que está sendo feito, de fato? Quantas conferências ainda serão necessárias para que o mundo entenda que os povos originários não são “parte interessada” — são guardiões e sujeitos centrais de qualquer resposta climática séria?
No fim, saí da Amazônia diferente. Não melhor. Diferente. Com mais dúvidas do que respostas. Com a certeza de que ir à COP, falar sobre clima e não ouvir povos originários — especialmente mulheres e jovens indígenas — é ir em vão. Com a convicção de que desenvolvimento sem floresta é atraso. E que floresta sem gente é mentira.
Uma semana não explica a Amazônia.
Mas uma semana basta para entender que ajudar sem escutar é só outra forma de colonizar.
A Amazônia não precisa de heróis. Precisa de aliados conscientes.
Precisa de Estado presente — do jeito certo.
Precisa de demarcação efetiva, políticas públicas continuadas, ciência no território e respeito inegociável.
E precisa, sobretudo, de um Brasil disposto a reaprender a ouvir.
*Bruno Ferreira Kramer é engenheiro agrônomo, pesquisador e atuo na área de desenvolvimento rural e políticas públicas dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA
Foto de capa e demais fotos: