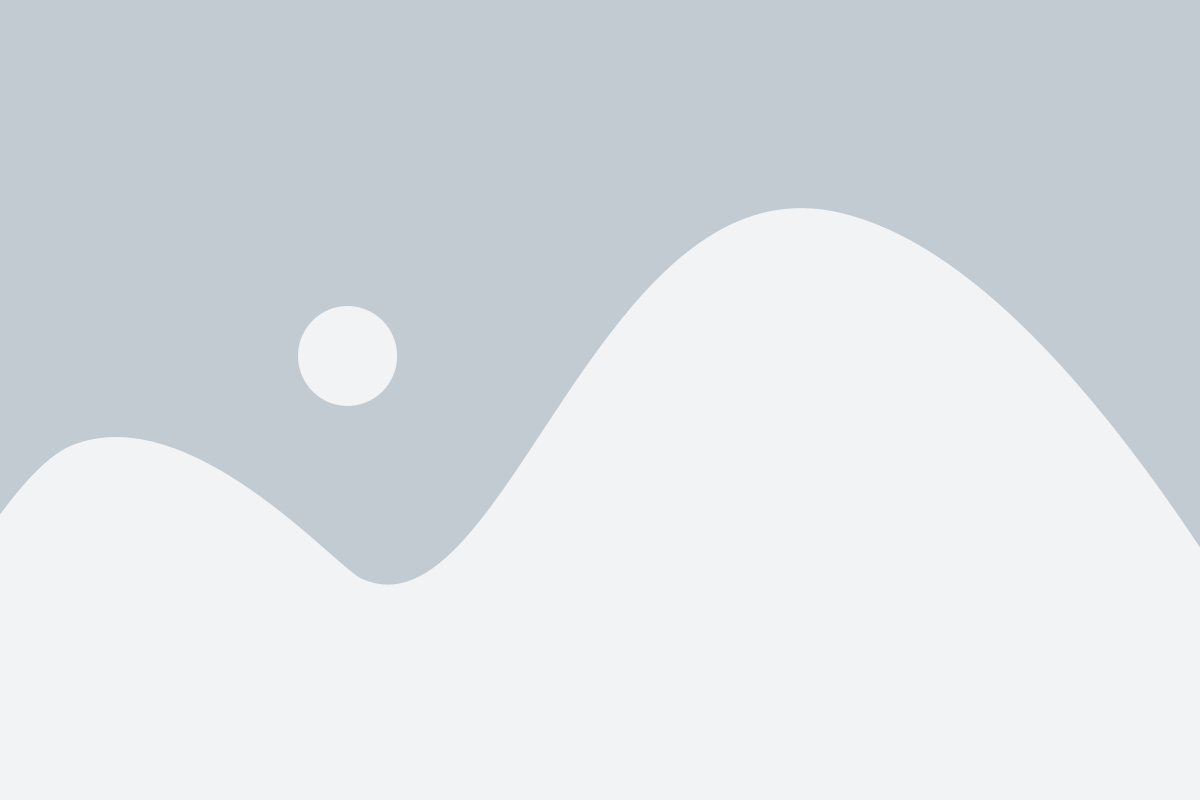Por ARLINDO VILASCHI*
A defesa da eficiência produtiva tem um mantra central: economias de escala. Ou seja, produzir em grande quantidade reduz custos unitários, amplia margens de lucro e fortalece empresas no mercado globalizado. O problema é que essa lógica, que cabe bem para orientar ganhos privados, transfere para a sociedade e para o meio ambiente custos muitas vezes irreparáveis. As chamadas externalidades negativas — impactos não computados nas planilhas das corporações — recaem sobre populações, ecossistemas e cofres públicos, sem que os verdadeiros responsáveis arquem proporcionalmente com os danos causados.
O caso de Mariana, em Minas Gerais, é um exemplo emblemático. Em 2015, o rompimento da barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, despejou milhões de toneladas de rejeitos no Rio Doce. O desastre matou 19 pessoas, destruiu comunidades inteiras, arrasou ecossistemas e afetou a vida de milhões de pessoas em Minas e no Espírito Santo. O episódio evidencia que o custo da busca incessante por ganhos de escala foi socializado, enquanto os lucros permaneceram privatizados.
Situação semelhante, em outra escala, pode ser observada na expansão de instalações existentes e projetos de construção de novos portos na costa capixaba. Projetos desse tipo são sempre apresentados como vetores de desenvolvimento, geração de empregos e integração da economia local ao mundo globalizado. O que falta a esses projetos é uma análise rigorosa dos impactos socioambientais — alteração de ecossistemas costeiros, expulsão de comunidades tradicionais, sobrecarga de infraestrutura urbana e riscos de acidentes — que vá além de medidas de mitigação pouco comprometidas com os médio e longo prazos. A lógica da economia de escala aplicada ao transporte marítimo, com navios cada vez maiores e operações mais intensivas, pressiona territórios frágeis sem que haja contrapartida proporcional em termos de proteção social e ambiental.
Esses casos não são exceção, mas a expressão de um modelo que desconsidera custos socioambientais. No campo, monoculturas extensivas exaurem solos e recursos hídricos. Na indústria, a concentração produtiva gera poluição e compromete a qualidade de vida de quem mora em seu entorno. No setor energético, megaprojetos de hidrelétricas deslocam populações inteiras e comprometem seres viventes que permanecem no território. Nesses, dentre outros casos, o denominador comum é a maximização do lucro imediato em detrimento de uma visão de longo prazo que integre economia, sociedade e natureza.
É nesse ponto que a discussão sobre responsabilização se torna urgente. Não basta lamentar danos causados após sua ocorrência. É necessário que empresas internalizem os custos das externalidades negativas que geram. Isso significa estabelecer mecanismos efetivos de cobrança — seja via tributação diferenciada, fundos de compensação obrigatórios ou seguros ambientais de grande escala. Mais do que punir depois do desastre, é preciso prevenir que ele ocorra.
Para isso, há que se ter rigor na aprovação e fiscalização de projetos de expansão ou implantação de novos empreendimentos. A análise, sobretudo daqueles de maior porte, precisa ir além do muitas vezes superestimado potencial econômico e de geração de emprego e renda. É indispensável que estudos de impacto ambiental e social sejam acompanhados pela efetiva participação de órgãos públicos de fiscalização e da sociedade civil.
Acompanhamento necessário para evita o círculo vicioso desejo acrítico de governos locais por investimentos – órgãos de regulação e fiscalização enfraquecidos – inexistente ou inefetivo acompanhamento pela sociedade civil – capturas por interesses corporativos. Círculo vicioso que resultam em tragédias anunciadas em maior ou menor escala que podem e devem ser evitadas.
Repensar a centralidade das economias de escala significa, também, questionar o paradigma de crescimento produtivo que naturaliza a maximização do lucro privado como motor do progresso. O verdadeiro desenvolvimento, em um mundo marcado pela emergência climática e pela escassez de recursos, deve ser medido por sua capacidade de garantir equilíbrio ecológico, justiça social e sustentabilidade socioambiental de longo prazo.
O crime de Mariana e os riscos embutidos na expansão portuária na costa capixaba estão longe de ser meros acidentes e efeitos colaterais inevitáveis, respectivamente. São alertas claros de que o preço da negligência é alto demais para ser pago pela sociedade e pelos seres viventes no território capixaba.
É urgente construir um pacto entre governo, sociedade e empresas que coloque a vida, a justiça social e a integridade de ecossistemas no centro das decisões econômicas. Dele deve resultar a garantia de transparência e de participação social em cada etapa dos projetos; o fortalecimento de mecanismos de regulação e fiscalização; e a adoção de políticas que priorizem modelos produtivos descentralizados, com maior vínculo com o território.
Esse é um primeiro movimento necessário para transformar a trajetória das economias de escala em um paradigma de economia do cuidado. Cuidado com as pessoas, com a Mãe Terra, com o direito a um presente digno para todos e futuro para quem por aqui já está e para quem estiver por chegar.
Arlindo Villaschi É Professor de Economia.
Foto de capa: IA