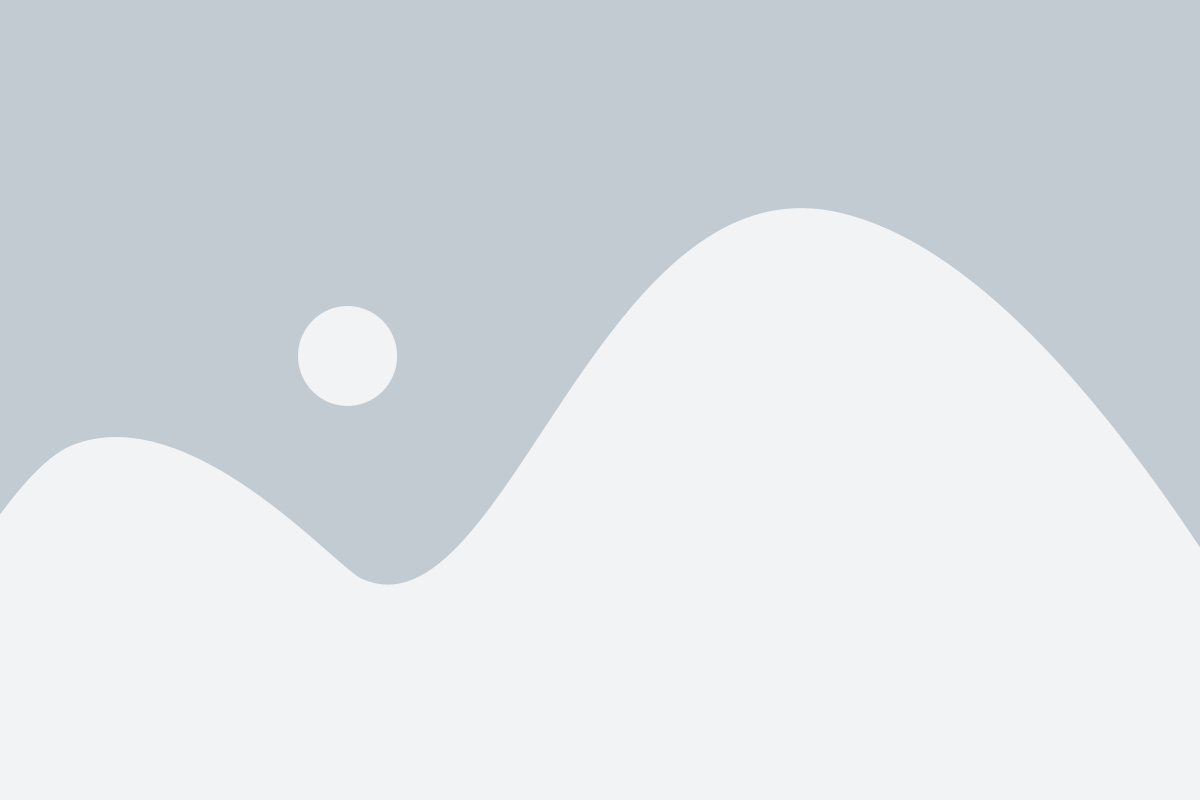Por CIDOVAL MORAIS DE SOUSA*
1.
Este ensaio realiza uma análise crítica da violência policial no Brasil, com foco na operação no Complexo da Penha (RJ), que resultou em mais de 120 mortes. A partir da sociologia crítica, denuncia-se a transformação da violência de Estado em política pública sistemática, evidenciada por ações similares em outros estados. O texto desvela o projeto político autoritário por trás dessa lógica, baseado na eliminação do indesejável e na retórica higienista. Reflete sobre a crise civilizatória e a banalização da vida nos tempos líquidos, marcados pela indiferença moral e pela erosão da empatia. A violência torna-se rotina, e a vida, estatística. Por fim, convoca-se um humanismo radical, que afirme a solidariedade como ato político e a dignidade como horizonte civilizatório. Trata-se de um gesto de resistência contra a barbárie e de afirmação da vida como valor absoluto.
2.
A operação policial batizada de “Contenção”, realizada no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro (em 28/10/2025), mobilizou mais de 2.500 agentes das forças de segurança, blindados, helicópteros e drones armados. O saldo: 124 mortos, entre eles adolescentes, trabalhadores e moradores que sequer tinham relação com o tráfico. A ação foi considerada a mais letal da história do estado, superando inclusive o massacre do Jacarezinho em 2021. A justificativa oficial: combate ao crime organizado. A realidade: uma política de extermínio que se repete, se intensifica e se naturaliza.
A repercussão internacional foi imediata. A ONU emitiu nota de preocupação com o uso desproporcional da força e a violação sistemática dos direitos humanos. O The Guardian classificou a operação como “um banho de sangue estatal”, enquanto o El País apontou para “a falência da democracia brasileira nas periferias”. O Le Monde destacou o silêncio cúmplice das instituições, e o Washington Post questionou a ausência de responsabilização. Mas, dentro do Brasil, a reação foi marcada por polarização: enquanto parte da sociedade se indignava, outra aplaudia, alimentada por discursos de ódio e pela lógica do inimigo interno.
Essa tragédia não é um ponto fora da curva. É parte de um padrão. Em agosto de 2023, na Bahia, uma série de operações policiais deixou mais de 40 mortos em menos de uma semana, em bairros periféricos de Salvador. Em julho de 2022, em São Paulo, a Operação Escudo matou 16 pessoas na Baixada Santista, após a morte de um policial. No Rio de Janeiro, os massacres se acumulam como capítulos de uma história escrita com sangue: Jacarezinho (2021), Vila Cruzeiro (2022), Salgueiro (2021), Maré (2014), e tantos outros que sequer ganharam manchetes. A violência policial no Brasil não é exceção — é política de Estado.
O que está em curso é a consolidação de um projeto político autoritário, que transforma a segurança pública em campo de guerra. A militarização das polícias, o uso de armamento pesado, a lógica da ocupação territorial e a ausência de controle externo revelam uma concepção bélica da gestão urbana. O inimigo não é o crime, mas o pobre, o negro, o favelado.
A banalização da morte é acompanhada pela espetacularização da violência. Imagens de corpos caídos, helicópteros atirando, blindados invadindo casas circulam nas redes sociais como se fossem cenas de videogame. A mídia tradicional, em muitos casos, reforça a narrativa oficial, reproduzindo termos como “suspeitos”, “confronto” e “troca de tiros”, mesmo quando não há evidência de resistência. A linguagem se torna cúmplice da barbárie. Como diria Hannah Arendt, “o mal pode ser banal, mas nunca inocente”. A repetição da violência sem questionamento é a normalização do inaceitável.
Vivemos uma crise civilizatória profunda. A vida humana perdeu centralidade no debate público. O neoliberalismo, ao transformar tudo em mercadoria, também mercantiliza a existência. A segurança pública se torna produto, vendido como promessa de ordem e progresso. A política se reduz à gestão da morte. Como aponta Zygmunt Bauman, “a modernidade líquida dissolve os vínculos sociais, tornando o outro um estranho, um inimigo, um risco”. A solidariedade dá lugar ao medo, e o medo justifica a violência.
A operação policial no Rio não foi apenas um massacre — foi uma performance. Uma demonstração de força para consolidar um projeto político que se alimenta da morte. A extrema direita, utiliza essas ações como capital simbólico, reforçando sua base eleitoral e sua narrativa de “ordem contra o caos”. A vida humana se torna moeda de troca.
3.
A violência policial no Brasil não é um desvio, tampouco um erro operacional. Ela é parte constitutiva de um projeto político que se alimenta, como já mostramos acima, da lógica do inimigo interno, da eliminação do indesejável e da normalização da morte. O Estado, ao invés de garantir direitos, sem julgamento, sentencia e executa a pena de morte. A favela, o quilombo urbano, o território periférico, tornam-se zonas de sacrifício, onde a vida é precária e descartável.
A lógica do inimigo interno é um dispositivo de poder que constrói uma figura a ser combatida, não por seus atos, mas por sua existência. O inimigo não é o crime, mas o corpo racializado, pobre, periférico. Como explica Michel Foucault, o poder moderno não se limita a reprimir, ele produz verdades, identidades e inimigos. O “bandido” é uma construção discursiva que permite justificar o uso extremo da força. A frase “bandido bom é bandido morto” não é apenas uma opinião — é uma política. Ela autoriza o Estado a matar sem julgamento, sem processo, sem culpa.
Essa lógica se expressa em frases como “limpamos o lixo”, “fizemos uma faxina”, “restauramos a ordem”. O vocabulário da limpeza revela uma política higienista, que vê determinados corpos como sujeira a ser removida. É o mesmo discurso que sustentou regimes autoritários ao longo da história: o nazismo com sua “solução final”, o apartheid com sua “segregação sanitária”, e as ditaduras latino-americanas com suas “operações de pacificação”. No Brasil contemporâneo, essa retórica é reciclada e aplicada às periferias urbanas.
A eliminação do indesejável é parte da necropolítica – o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer, como afirma Achille Mbembe. No Brasil, essa decisão é racializada e territorializada. Os corpos negros e pobres são os principais alvos das operações policiais. A geografia da morte é precisa: ela se concentra nos morros, nas favelas, nos bairros esquecidos pelo Estado.
A normalização da morte como política pública é um dos traços mais perversos da nossa crise civilizatória. A cada nova chacina, a reação institucional é a mesma: justificativas, números, promessas de investigação. Mas a estrutura permanece intacta. A morte se torna rotina, estatística, ruído. Como escreveu Giorgio Agamben, vivemos sob o estado de exceção permanente, onde a suspensão dos direitos se torna regra. O morador da favela é tratado como homo sacer — aquele que pode ser morto, mas não sacrificado; aquele cuja morte não é crime, nem luto.
A indiferença diante da tragédia é sintoma de uma sociedade adoecida. Quando autoridades afirmam que “para mim, só tivemos como vítima os policiais que morreram”, revelam não apenas insensibilidade, mas cumplicidade. Essa frase não é um deslize — é uma doutrina. Ela expressa a hierarquização da vida, onde alguns corpos valem mais que outros. Como aponta Judith Butler, “a vida precária é aquela cuja perda não é lamentada, cuja morte não é reconhecida como perda”.
O projeto político por trás dessa violência é autoritário, neoliberal e ultraconservador. Autoritário porque concentra poder nas mãos das forças de segurança, com pouca ou nenhuma fiscalização. Neoliberal porque transforma a segurança em mercadoria, vendida como solução para o medo. Ultraconservador porque se apoia em valores punitivistas, racistas e patriarcais. A extrema direita brasileira utiliza a violência como capital político, mobilizando afetos como medo, raiva e ressentimento. A morte se torna espetáculo, campanha, propaganda.
4.
Vivemos um tempo em que a vida perdeu seu valor simbólico, ético e político. A crise que atravessamos não é apenas institucional ou econômica — é uma crise civilizatória. A barbárie deixou de ser exceção e tornou-se rotina. A morte, antes cercada de luto e reverência, hoje é estatística, ruído, espetáculo. A indiferença diante da dor alheia é sintoma de uma sociedade que desaprendeu a sentir. A liquefação dos vínculos humanos, como apontou Zygmunt Bauman, dissolve a empatia, a solidariedade e o cuidado. Estamos diante de uma civilização que colapsa por dentro.
A banalização da vida é um dos traços mais perversos dessa crise. Quando uma operação policial deixa mais de cem mortos, com a conivência do Estado, estamos diante de uma ruptura ética. Quando autoridades afirmam que “só os policiais mortos são vítimas”, estamos diante da negação da humanidade do outro. A vida periférica, negra, pobre, é tratada como descartável. Como escreveu Judith Butler, “há vidas que são vividas e perdidas fora da esfera da reconhecibilidade, vidas que não são consideradas vidas dignas de luto”. No Brasil, essas vidas são muitas.
A barbárie contemporânea não se dá apenas pela violência física, mas pela erosão dos laços sociais. A sociedade se fragmenta em bolhas, muros, trincheiras. O outro é visto como ameaça, risco, inimigo. A política se torna guerra, e a guerra se torna política. A linguagem da segurança pública é militar: “invasão”, “confronto”, “neutralização”. A cidade se transforma em campo de batalha, e a favela em território inimigo. Como escreveu Giorgio Agamben, “o estado de exceção se torna a norma, e a vida nua é exposta à morte sem mediação”.
A liquidez da vida, como apontou Bauman, dissolve os compromissos duradouros, os vínculos afetivos, os projetos coletivos. Tudo é efêmero, volátil, descartável. A solidariedade é substituída pelo medo, e o medo justifica a violência. A política se torna gestão do risco, e o risco é sempre o outro. O morador da favela é visto como ameaça, mesmo quando dorme, trabalha, sonha. A suspeita é estrutural, e a punição é preventiva. A vida é punida antes mesmo de ser vivida.
A crise civilizatória se revela também na espetacularização da dor. Imagens de corpos caídos, helicópteros atirando, drones, blindados, circulam nas redes como se fossem cenas de um filme de ação. A mídia, em muitos casos, reforça a narrativa oficial, reproduzindo termos como “suspeitos”, “confronto”, “troca de tiros”. A linguagem se torna cúmplice da barbárie. Como diria Hannah Arendt, “o mal pode ser banal, mas nunca inocente”. A repetição da violência sem questionamento é a normalização do inaceitável.
A indiferença social diante da tragédia revela uma anestesia moral. A dor do outro não nos comove, não nos mobiliza, não nos transforma. Vivemos sob o império da indiferença, onde a morte é naturalizada e a vida é relativizada. Como escreveu Susan Sontag, “a guerra é o espetáculo que nos ensina a não sentir”. No Brasil, a guerra é cotidiana, e o espetáculo é permanente. A favela é palco, e os corpos são figurantes.
5.
Diante da repetição da morte como política pública, da indiferença institucional e da anestesia moral que se alastra como névoa, é urgente convocar um humanismo radical. Não um humanismo abstrato, retórico, domesticado — mas um humanismo encarnado, insurgente, comprometido com a dignidade de cada vida. Um humanismo que não se curva diante da lógica do descarte, que não se cala diante da violência, que não se acomoda diante da injustiça.
O humanismo radical é aquele que reconhece que toda vida importa, não como slogan, mas como princípio ético e político. É aquele que se recusa a aceitar que a morte de um jovem negro na favela seja menos trágica que a de um turista em Copacabana. É aquele que afirma, com todas as letras, que nenhuma política pode ser legítima se se constrói sobre cadáveres. Como escreveu Frantz Fanon, “não se deve permitir que o mundo se torne um campo de concentração para os condenados da terra”.
Enfrentar a naturalização da violência exige coragem. Exige romper com a linguagem que legitima o extermínio, com os discursos que transformam vítimas em culpados, com as narrativas que justificam a barbárie em nome da ordem. É preciso desobedecer à gramática do ódio, desmantelar os dispositivos que transformam o outro em ameaça, e afirmar que a segurança não pode ser construída sobre o medo — mas sobre o cuidado.
A solidariedade, nesse contexto, é ato revolucionário. Ela rompe com a lógica da indiferença, com o isolamento afetivo, com a fragmentação social. Ela afirma que o sofrimento do outro me diz respeito, que a dor do outro me convoca, que a morte do outro me fere. Como escreveu Emmanuel Lévinas, “o rosto do outro me interpela, me obriga, me convoca”. A solidariedade é o antídoto contra a barbárie, o gesto que resgata a humanidade em meio ao colapso.
A política da vida é aquela que se constrói a partir do reconhecimento da vulnerabilidade comum. Todos somos frágeis, todos somos finitos, todos somos interdependentes. A política da vida não é a negação do conflito, mas a afirmação da coexistência. Ela exige redistribuição, reconhecimento, reparação. Ela exige que o Estado deixe de ser máquina de morte e se torne garantidor de direitos. Ela exige que a democracia chegue à favela, não como ocupação militar, mas como presença cidadã.
Como escreveu Boaventura de Sousa Santos, “não há democracia sem justiça social, sem igualdade racial, sem dignidade humana”. A política da vida é aquela que afirma que o morador da Maré tem o mesmo direito à existência que o morador de Ipanema. Que o jovem negro tem o mesmo direito ao futuro que o jovem branco. Que a favela não é território inimigo, mas território de vida, de cultura, de resistência.
O humanismo radical não é utopia distante — é urgência presente. Ele se manifesta nas mães que choram seus filhos assassinados e transformam o luto em luta. Nos movimentos sociais que denunciam a violência e constroem alternativas. Nos educadores que ensinam a pensar criticamente. Nos artistas que transformam dor em beleza. Nos cidadãos que se recusam a aceitar a morte como rotina. O humanismo radical é a força que resiste, que insiste, que persiste.
Como escreveu Eduardo Galeano, “muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, pode mudar o mundo”. Porque no fim, como escreveu Mia Couto, “o mundo não é o que existe, mas o que pode existir”. Que possa existir um mundo onde a vida seja sagrada, onde a política seja cuidado, onde a segurança seja justiça. Que possa existir um mundo onde nenhuma mãe precise enterrar seu filho por causa de uma política de extermínio. Que possa existir um mundo onde a barbárie não seja normal, e a solidariedade não seja exceção.
Por um humanismo radical. Pela política da vida. Contra a barbárie.
*Cidoval Morais de Sousa é professor e Pesquisador da Universidade Estadual da Paraíba (DECOM, PPGDR e PPGECEM), Secretário Regional (PB) da SBPC e membro do Centro Internacional Celso Furtado. Pesquisador visitante do IE/Unicamp e colaborador do PPGCTS (UFSCar).
Foto de capa: Ilustração anônima de 1794 mostrando a execução de vários líderes franceses, incluindo Robespierre. (Foto: Wikimedia Commons/Domínio público)