Por DANIEL AFONSO DA SILVA*
Fazia frio naqueles dias em Paris. Uma penumbra ocre e uma brisa fina recobriam a capital e o país. Eram inícios de novembro. O ano, 1970. Cinco anos depois do fim do Concílio do Vaticano II e da morte de Winston Churchill.
Marguerite Duras (1914-1996), Marguerite Yourcenar (1903-1987) e Romain Gary (1914-1980) eram as grandes letras francesas do momento. Mémoire d’Hadrien de 1951, L’Amante anglaise de 1967 e La promesse de l’aube de 1960 funcionavam como síntese lírica daquela geração.
No cinema, a Nouvelle Vague. François Truffaut (1932-1984) e Jean-Luc Godard (1930-2022). Em cena, Alain Delon (1935-2024), Brigite Bardot, Jean Gabin (1904-1976) e Jean-Paul Belmondo (1933-2021). Rostos da França, rostos do mundo. Imortalizados em Plein soleil [O sol por testemunha], À bout de souffle [Acossado] e L’homme de Rio [O homem do Rio]. Catherine Deneuve e Gérard Depardieu eram revelações. Daniel Auteuil, uma promessa. Juliette Binoche, uma menina.
Na música, Serge Gainsbourg (1928-1991) dava o tom. No rock and roll, o Elvis Presley francês era Johnny Hallyday (1943-2017).
Na intelligentsia universitária, Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Fernand Braudel (1902-1985), Jacques Lacan (1901-1981), Jean-Paul Sartre (1905-1980), Michel Foucault (1926-1984) e Raymond Aron (1905-1983) eram vivos e marcavam fundo o imaginário dos frequentadores do Quartier Latin, da Rue des écoles, da Rue Saint Guillaume, do Boulevard Saint Michel e do Boulevard Saint Germain.
Ainda no campus, Pierre George (1909-2006) e Yves Lacoste eram a Geografia por vocação.
No jornalismo, André Fontaine (1921-2013) e Jean Lacouture (1921-2015), as leituras diárias obrigatórias no Le Monde.
No futebol, como costume, os franceses não iam bem. Bem do contrário. Iam bastante mal. Ficando de fora da Copa do Mundo do México. E, por conseguinte, sendo obrigados a venerar os eminentes Gérson, Jairzinho, Pelé, Rivelino e Tostão da seleção brasileira campeã da competição daquele ano. 1970.
Um ano de virações, fins de ciclo, fins de tarde, fins de mês.
O mês era novembro.
Um duro e rigoroso inverno anunciava-se. Notáveis e populares antecipavam-se e resguardavam-se para o Natal. Historiadores e memorialistas meditavam sobre os melhores festejos pelo centenário da Comuna. Políticos e intelectuais ainda remoíam interpretações e memórias da debacle de 1940. A comunidade estrangeira ressentia a situação na Argélia. Franceses ultramarinos – comedidos, mas perplexos – ainda intentavam compreender as razões dos tumultos de maio de 1968 na capital. Europeus e norte-americanos faziam o mesmo para apreender as motivações do novo presidente francês, George Pompidou (1911-1974).
Esse era o quadro. Feito em cenário. Quase pintura. Tipo moldura. Tudo agitado e estático simultaneamente. Fluindo e estancando. Envolto às mais profundas e requintadas tradições francesas. Que pareciam eternas, atemporais. Quando uma notícia intempestiva aterrissou na paisagem. Primeiro como rumor. Depois, confirmação. E, ao fim, verdade.
O general De Gaulle não vinha mais. Acabara de morrer. Naquele novembro. No dia 9.
Tinha ano e meio que ele abdicara da presidência da França em favor de seu primeiro-ministro, George Pompidou. Dois anos e pouco que ele interpelara as protestações pelas ruas de Paris, partira para Baden-Baden, na Alemanha, parlamentara com o general Jacques Massu (1908-2002), retornara a Colombay-les-deux-Églises e regressara a Paris com a convicção de que não dava mais.
Mas seu passado seguia imenso.
Três anos antes de 1970 foi o seu “Vive le Québec libre” [Viva o Quebec livre]. Mais ou menos no mesmo momento de seu “Un peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur” [um povo de elite, seguro de si e dominador] a propósito dos judeus em Israel. Quatro anos antes de 1970 ocorreu a sua retração da França do comando integral da Otan. Cinco anos antes, a sua vitória sobre François Mitterrand (1916-1996) em sufrágio universal. Oito anos antes, a assinatura dos Acordos de Évian, sobre a sorte dos argelinos. Doze anos antes, ele havia sido conclamado ao poder supremo da França para criar a Quinta República Francesa. Vinte e quatro antes, ele tinha sido expulso da vida política do país após conduzir a sua liberação do jugo alemão dois anos antes. Vinte e seis anos antes, ele tinha declamado e imortalizado
Paris outragé! [Paris ultrajada!].
Paris brisé! [Paris quebrada!].
Paris martyrisé! [Paris martirizada!] Mais Paris libéré. [Mas Paris liberada].
Trinta anos antes, ele fizera o seu Apelo do 18 de junho de 1940, onde ponderou
Mais le dernier mot est-il dit? [a última palavra já foi dita?].
L’espérance doit-elle disparaître? [a esperança está condenada a desaparecer?].
La défaite est-elle définitive? [a derrota é definitiva?].
Quarenta e nove anos antes, ele casara-se com Yvonne de Gaulle (1970-1979). Cinquenta e quatro anos antes ocorreu o seu aprisionamento na Batalha de Verdun. Setenta e nove anos, onze meses e dois dias, o seu nascimento em Lille.
Apenas nisso, um gigante francês incontestavelmente.
Herói nacional.
Construtor do país.
Um homem de fé.
Católico praticante.
Fiador da França, da Europa e do Ocidente.
Sempre com uma certa ideia de cada um deles.
Mesmo assim ou talvez justamente por isso, sempre contestado e maltratado em toda a sua trajetória. Tido por louco. Traidor. Bandido. Rebelde. Malfazejo. Arrogante. Autoritário. Ditador.
Notadamente pela juventude da geração de baby boomers que lotou as ruas de Paris naquele maio de 1968 e não saiu mais.
Mas também pelos mais antigos.
Aqueles que foram e eram seus adversários e inimigos. Socialistas e comunistas sobretudo. Nostálgicos dos tempos de Léon Blum (1872-1950) e do Front populaire. Admiradores do marechal Philippe Pétain (1856-1951) também.
Todos muito duros com o general em vida.
Mas, agora, com ele morto, todos perplexos.
Consumidos por certa incompreensão.
O homem da resistência, do Apelo do 18 de Junho de 1940, da liberação de Paris, fundador da Quinta República não existia mais. Seria enterrado em breve. E levaria consigo referências morais instransponíveis da consciência da França, da Europa e do Ocidente. Como ocorrera cinco anos antes, na morte de Churchill. Mas, agora, talvez, ainda mais.
Pois, pouco a pouco, ainda naquele 9 de novembro de 1970, foi-se notando que essa perplexidade francesa invadia a Europa, os Estados Unidos, o Ocidente e o mundo inteiro e o vazio sem o general revelava-se monumental. Antes mesmo de seus obséquios e funerais.
Ainda naquele 9 de novembro, tão logo participadas da notícia, chancelarias dos quatro cantos do planeta fizeram instantaneamente chegar ao Quai d’Orsay e ao Élysée os seus pesares ao encontro da França, dos franceses e da família do general.
Ao mesmo tempo, mais de oitenta soberanos, chefes de estado e chefes de governo interditaram os seus afazeres e começaram a singrar pessoalmente para a França e para Paris. Outros tantos fizeram silêncio, pediram uma missa, caíram em contrição.
Os que vieram à França e a Paris chegaram devastados. Tapados de emoção. Cabisbaixos. Mirando o vazio. Procurando explicação.
A catedral de Notre-Dame de Paris foi, assim, pari passu, transformando-se em Notre-Dame do mundo. Com a reunião de praticamente todas as grandes autoridades mundiais presentes.
O presidente norte-americano, Richard Nixon (1913-1994). O primeiro-secretário soviético, Nikolaï Podgorny (1903-1983). O xá o Irã, Reza Pahlevi (1919-1980). O primeiro-ministro britânico, Anthony Eden (1897-1977). O assessor de Eden, Harold Wilson (1916-1995). O presidente do Senegal, Léopold Sedar Senghor (1906-2001). O presidente da Finlândia, Urho Kekkonen (1900-1986). O príncipe Charles representando Sua Majestade, a rainha Elizabeth II (1926-2022). A rainha Juliana (1909-2004) da Holanda. O imperador da Etiópia, Haile Selassié (1892-1975). O irmão do imperador Hussein da Jordânia. Dezenas de personalidades internacionais de estatura planetária como David Ben-Gurion (1986-1973), para mencionar apenas uma. Centenas de companheiros de farda da liberação de 1944. Oficiais da Legião de Honra e heróis da resistência. Praticamente todo o corpo diplomático estacionado em Paris, na França e imediações. Claramente todos os representantes dos corpos burocráticos intermediários de todos as entidades internacionais, públicas e privadas, acreditadas no governo francês e na administração de Paris. Praticamente todos os representantes das entidades religiosas ortodoxas, israelitas e ismaelitas assentados no país. Toda a classe política francesa. Todas as personalidades intelectuais, culturais e politicas relevantes no país. André Malraux (1901-1976), Alain Peyrefitte (1925-1999), Jacques Chaban-Delmas (1915-200), Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020), Edgar Faure (1908-1988) e tantos outros. Adicionados às centenas de milhares de pessoas, conhecidas e anônimas, que não conseguiram adentrar a catedral. Onde o valoroso cardeal François Marty (1904-1994), em memória do general, fazia uma missa simples, baseada no Evangelho de João, como o general havia desejado.
Ninguém andava. Ninguém ouvia. Ninguém se movia.
Um silêncio imenso os invadia.
Lançando-os todos em labirintos vazios. Ocupados de lembranças.
Ao fundo, o coral executava Johann Sebastian Bach.
Lá fora, o aeroporto de Orly suspendeu as suas atividades. O transporte público de ônibus, trem e metrô também.
Floristas viram-se abarrotados com demandas de arranjos vindas aos borbotões de todas as partes do mundo. Da Grécia, dos Estados Unidos, das Américas, do Vietnã, da Arábia Saudita, da China.
Aliás, da China, Mao Tsé-Tung (1893-1976), em pessoa, ordenou a compra de oito furgões especiais de rosas, dálias, lis, crisântemos, violetas para adornar a cena. O adeus ao general. O adeus a Charles de Gaulle.
Publicado originalmente em Jornal da USP.
*Daniel Afonso da Silva é Pesquisador no Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e professor na Universidade Federal da Grande Dourados.
Foto da capa: Reprodução/Famous People










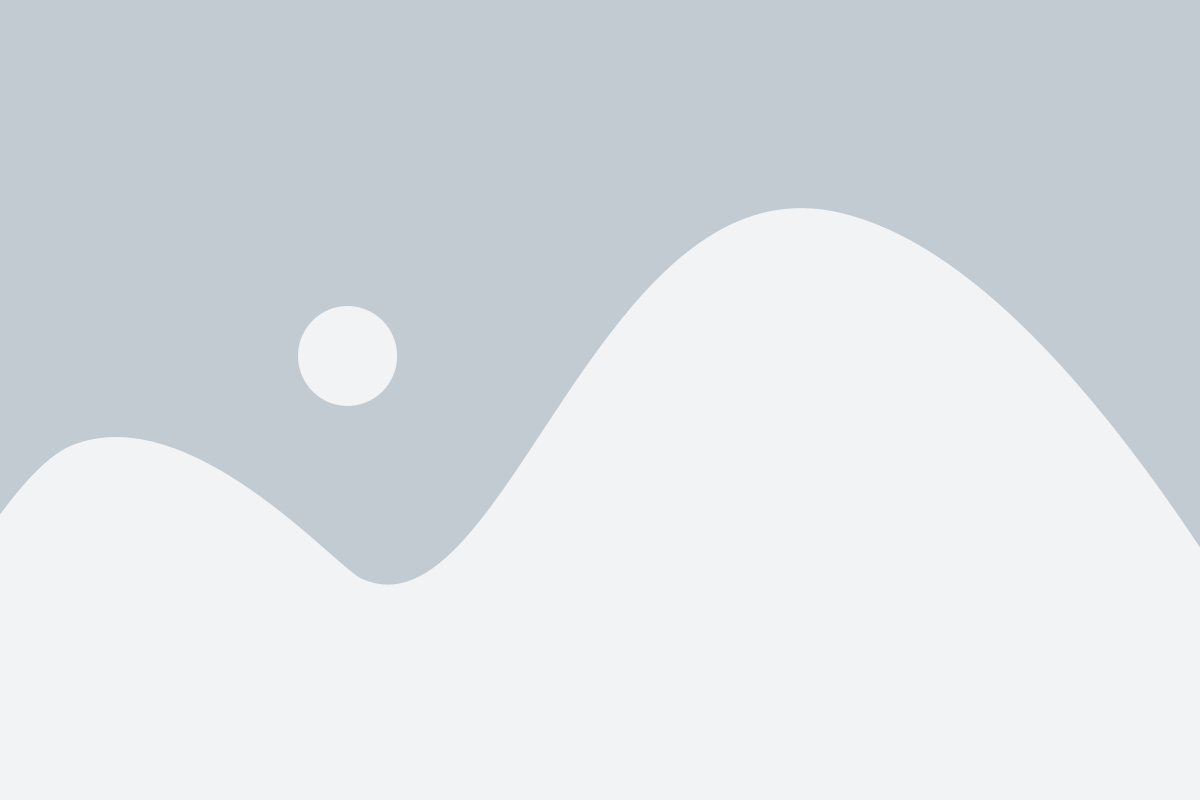


Uma resposta
Obrigado pela aula de historia. É tudo que posso dizer.