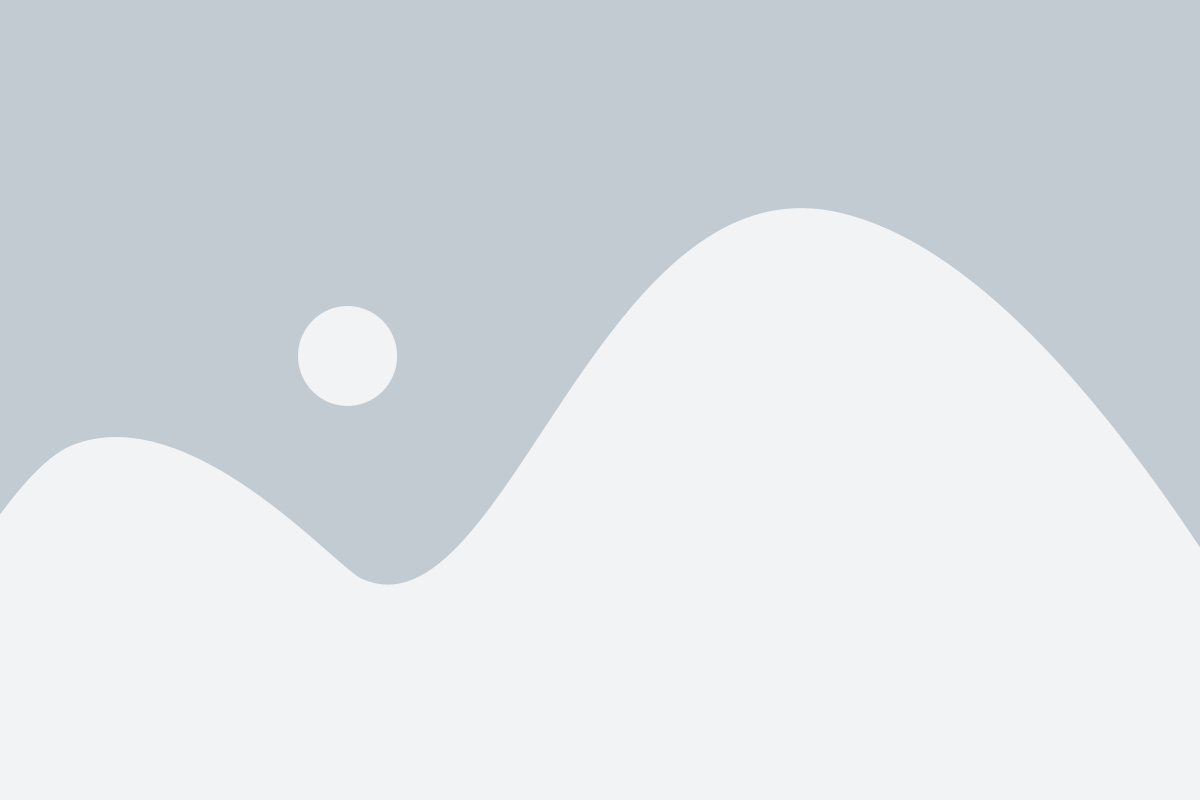Por MARIA LUIZA FALCÃO SILVA*
Donald Trump adora repetir que “encerrou oito guerras”. A frase, passou a ser usada insistentemente pelo presidente norte-americano quando ele tentou capitalizar politicamente a assinatura do acordo de paz entre Israel e a Palestina, mediado por Washington e celebrado no Egito sem a presença do Hamas ou de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. A cerimônia, amplamente televisionada, foi transformada em um espetáculo de redenção pessoal. Ali nascia a figura do “pacificador”, o presidente que se dizia capaz de resolver conflitos que Joe Biden teria alimentado.
Logo nos primeiros dias de seu segundo mandato, Trump trocou o nome do Departamento de Defesa por Ministério da Guerra, sob o argumento de que “é preciso chamar as coisas pelo que são”. A mudança, que soou absurda ao mundo, teve efeito interno calculado: transformar a retórica de confronto em política oficial. O autoproclamado pacificador começava o governo celebrando a guerra como linguagem legítima do Estado.
A velha doutrina do quintal
O caso mais grave, e mais revelador, é a Venezuela. Trump confirmou pessoalmente a autorização para que a CIA conduzisse operações clandestinas em território venezuelano, um gesto inédito de transparência cínica — porque admite o que, por décadas, se fez às escondidas. Caracas levou o episódio ao Conselho de Segurança da ONU, denunciando ataques a embarcações em águas caribenhas que deixaram dezenas de mortos.
Washington reagiu com a velha justificativa: combate ao narcotráfico, autodefesa, “proteção da democracia”. São os mesmos argumentos usados nos anos 1950 contra a Guatemala, nos anos 1970 contra o Chile e, mais recentemente, na Nicarágua e no Panamá. A doutrina Monroe ressurge com novo uniforme, mas com a mesma essência: a América Latina como zona de influência direta dos Estados Unidos.
O discurso moralizador — libertar o povo do “tirano” Nicolás Maduro — funciona como biombo para objetivos estratégicos mais amplos: conter a influência chinesa e russa na região, assegurar acesso a reservas de petróleo e lítio e demonstrar capacidade de projeção militar. É o retorno da política do “big stick” em versão midiática, alimentada por redes sociais e por uma imprensa que trata operações clandestinas como atos de coragem.
O perigo é que essa retórica rapidamente se transforme em ação. A presença naval norte-americana no Caribe aumentou, e relatórios da inteligência venezuelana falam em sobrevoos e incursões de drones. O cenário lembra os prólogos conhecidos das “intervenções limitadas” que terminam em ocupações prolongadas.
O Oriente Médio como palco de bravatas
Em outro ponto do planeta, Trump voltou a ameaçar “entrar e matar” o que restou do Hamas, mesmo depois de um cessar-fogo mediado por Egito e Catar. O tom do discurso foi o de sempre: teatral, desafiador, sem coordenação com o Departamento de Estado. A fala gerou ruído imediato entre aliados e serviu para minar a frágil trégua em Gaza, que sobrevive mais por exaustão mútua do que por acordo real.
A estratégia é transparente. Trump sabe que cada ameaça de ação militar lhe rende manchetes, mobiliza a base interna e reforça a imagem de liderança masculina e implacável. O problema é que, no Oriente Médio, palavras têm peso de bombas. Qualquer declaração de força feita por Washington é interpretada como sinal verde para escaladas locais. Quando o presidente dos Estados Unidos fala, alguém dispara — e quase sempre morrem civis.
As guerras invisíveis: tarifas, tecnologia e sanções
Mas talvez o mais perigoso nas novas guerras de Trump não sejam as explosões, e sim o silêncio. A guerra comercial contra a China e o conjunto de medidas protecionistas impostas à Europa e à América Latina configuram um tipo diferente de conflito: sem fronteiras físicas, sem tanques, mas com vítimas reais.
Ao reerguer barreiras alfandegárias, o governo americano desorganiza cadeias produtivas inteiras, encarece alimentos, destrói empregos e amplia a insegurança global. No plano tecnológico, as restrições à exportação de semicondutores e os bloqueios a empresas chinesas criam um regime de apartheid digital. São guerras econômicas travadas com os instrumentos da finança e da diplomacia coercitiva, mas que produzem efeitos tão devastadores quanto os conflitos armados.
Sob Trump, a economia se transforma em campo de batalha. As tarifas funcionam como mísseis; as sanções, como bombardeios invisíveis.
O cálculo político da instabilidade
Por trás dessa multiplicação de frentes está o método de sempre: fabricar crises para governar sobre o medo. Trump aprendeu que ameaçar é mais barato que atacar, e que a ambiguidade é uma arma poderosa. Opera nas zonas cinzentas do direito internacional, usa a CIA para ações “negáveis”, fala em autodefesa e depois nega intenções de guerra.
A cada gesto, testa os limites da legalidade e da tolerância global. Se o mundo se acostuma, ele avança mais um passo. Essa política da tensão permanente alimenta tanto o orgulho nacionalista interno quanto o lucro das corporações de defesa e energia. É uma aliança entre espetáculo e economia: o conflito como espetáculo de poder e o poder como negócio.
A erosão da legalidade internacional
Para a América Latina, esse é o ponto crucial. Quando um presidente norte-americano declara publicamente que conduz operações secretas, a exceção se torna regra. O direito internacional perde força, e as instituições multilaterais — ONU, OEA, OMS, até o FMI — se convertem em instrumentos de legitimação dos mais fortes.
A América do Sul, que durante décadas defendeu a solução pacífica de controvérsias, não pode assistir passivamente à reedição das políticas de força. O Brasil, em particular, tem legitimidade para agir. É preciso reativar fóruns como a Unasul e a Celac, convocar uma missão de verificação independente sobre os ataques no Caribe e propor um pacto regional de não intervenção. Mais que uma questão diplomática, trata-se de uma defesa da soberania continental.
O novo tipo de guerra e o papel do Sul Global
Trump não encerrou as guerras: apenas as reconfigurou. Trocou as ocupações longas por choques rápidos e midiáticos; substituiu a diplomacia paciente pela provocação contínua; e transformou a linguagem da paz em instrumento de intimidação. Sua estratégia é a da instabilidade controlada — manter o mundo em estado de alerta permanente, sob a promessa de que só ele pode restaurar a ordem.
Para o Sul Global, o desafio é imenso. Países que tentam construir agendas autônomas — como Brasil, Índia, Indonésia e África do Sul — tornam-se alvos de sanções, chantagens e campanhas de desinformação. A multipolaridade que começava a se consolidar após a pandemia corre o risco de se fragmentar sob a pressão de uma nova cruzada americana, agora travestida de realismo.
O Brasil, anfitrião da COP-30 e protagonista do BRICS ampliado, tem a oportunidade e a responsabilidade de oferecer outra narrativa: a da paz ativa, da cooperação entre civilizações e da defesa incondicional da soberania. Num mundo onde a ameaça se tornou rotina e resistir à lógica das armas é o ato mais revolucionário.
*Maria Luiza Falcão Silva é PhD pela Heriot-Watt University, Escócia, Professora Aposentada da Universidade de Brasília e integra o Grupo Brasil-China de Economia das Mudanças do Clima (GBCMC) do Neasia/UnB. É membro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia (ABED). Entre outros, é autora de Modern Exchange Rate Regimes, Stabilisation Programmes and Co-ordination of Macroeconomic Policies, Ashgate, England/USA.
Foto de capa: AFP (Charly Triballeau)