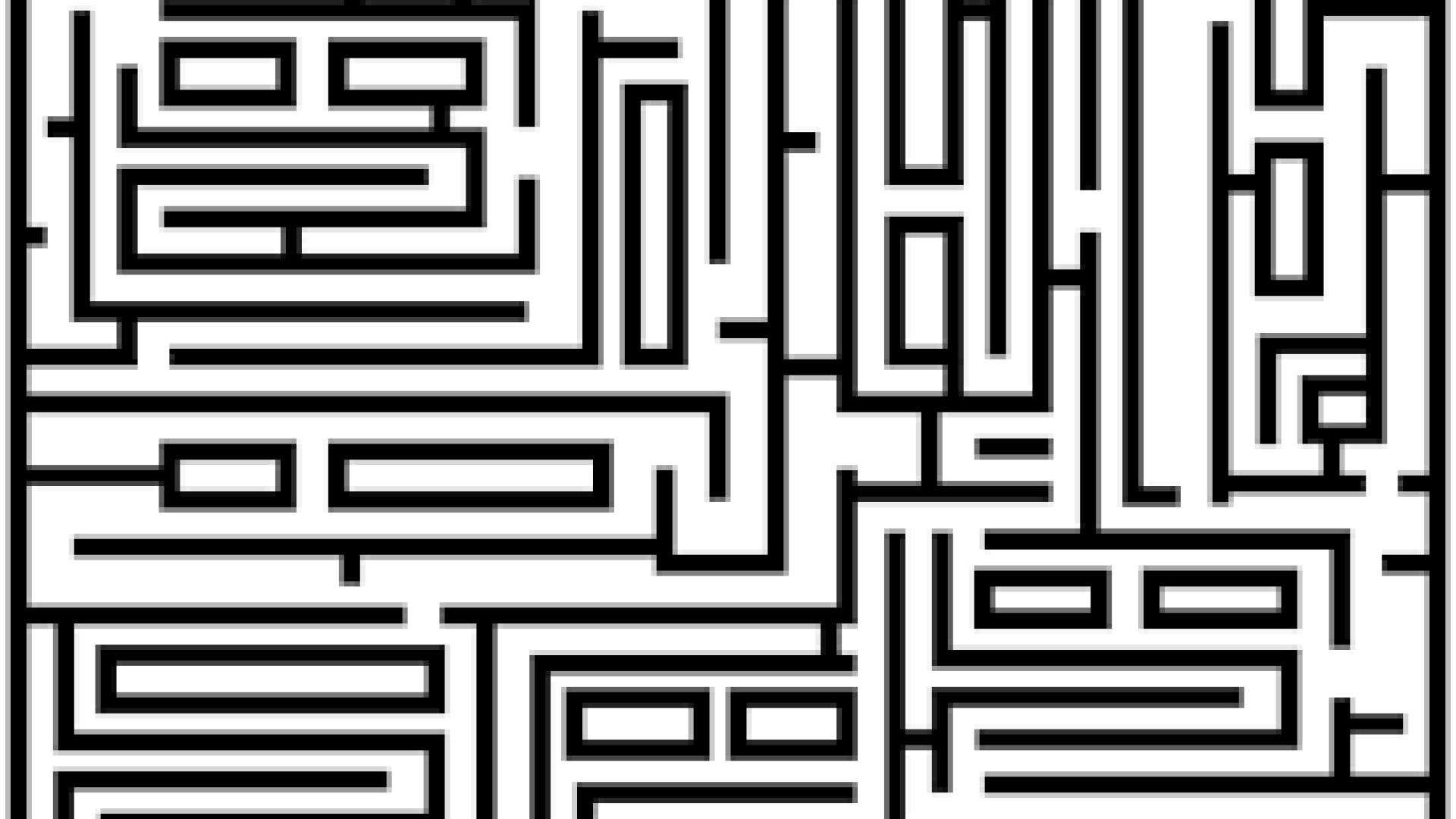Por JEAN MARC VON DER WEID*
Introdução:
Ao começar a escrever este artigo fui me dando conta de que o foco indicado no título estava errado ou, pelo menos, não devia ser prioritário neste momento. Queria, inicialmente, avaliar os problemas do presidente Lula na sua relação com o Congresso, mas a questão é mais ampla do que a crise permanente entre os dois poderes da República, neste governo. O problema não é conjuntural, embora existam agravantes específicos na relação entre Lula e, simbolicamente, Lira e Pacheco.
O que está em jogo, e isto foi se instaurando paulatinamente, é a relação entre o Executivo e o Legislativo, permeada ainda pela relação deste último com o Judiciário. O que temos no presente é uma deformação estrutural no equilíbrio desejável entre os três poderes, em especial a apropriação indébita das funções do Executivo pelo Legislativo. Como chegamos a isso?
Uma história tenebrosa.
Olhando para a história das instituições, o poder Executivo sempre foi predominante no nosso presidencialismo hipertrofiado. Em particular, o Executivo sempre teve a responsabilidade de definir o Orçamento Federal. O predomínio do Executivo exacerbou-se durante os 21 anos de ditadura, que manteve sob controle os outros dois poderes, eventualmente intervindo na composição e na forma de atuação destes últimos. Esta extrema centralização do poder gerou na sociedade a necessidade de reequilibrar as forças, que se traduziu em uma forte redução do poder do Executivo na Constituinte de 1988.
Não vou entrar nos detalhes da legislação então promulgada, mas apenas registrar que o Congresso passou a interferir pesadamente na definição do orçamento proposto pelo Executivo.
Soma-se a esta nova distribuição de poderes um dado marcante na redemocratização: a pulverização dos partidos, fruto de anos de redução artificial da representação política em um bipartidarismo forçado, e a própria anulação do fazer político. Ao se tirar a tampa da panela de pressão com a revogação do Ato Institucional número dois, surgiram agremiações em profusão, em sua quase totalidade sem identidade programática e respondendo a composições de forças políticas locais que se somavam em partidos nacionais que eram pouco mais do que aglomerados oportunistas.
Três exceções marcaram este período de reorganização partidária: o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Este último carregou uma mistura de adesões sem princípios, com definições programáticas de caráter nacionalista, muito centrado na figura de seu criador e líder carismático, Leonel Brizola. Os dois primeiros eram partidos com definições programáticas mais abrangentes,
o primeiro mais à esquerda, exprimindo posições voltadas, sem muita precisão, à construção de um país socialista e o segundo mais voltado a um desenvolvimento econômico de caráter liberal, muito embora tivesse, inicialmente, pelo menos, posições reformistas do ponto de vista social.
Não por acaso, o PSDB e o PT foram protagônicos ao longo de um largo período, de 1993 a 2016, disputando todas as eleições presidenciais. Também não por acaso, ambos os partidos não conseguiram eleger bancadas na Câmara e no Senado que dessem suporte coerente à execução dos programas de seus eleitos para a presidência da República.
A fragmentação partidária não se manifestava apenas pelo número de partidos, mas também pelas inúmeras divisões internas em cada um. O maior deles, o PMDB, aglutinou antigos opositores ao regime militar oriundos de tudo quanto é nuance política, da direita (o clã Barbalho) ao centro-esquerda (Miguel Arraes), passando por políticos do centro democrático (Pedro Simon) e um grande número de fisiológicos que aderiram ao partido quando este foi para o governo Sarney.
O sistema eleitoral herdado do regime militar e não alterado pela Constituinte privilegiou os políticos que se elegiam pelos chamados “rincões”. Em pequenos ou mais atrasados Estados, sobretudo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas também em áreas rurais de outras regiões, o controle do eleitorado por oligarquias locais seguia vigente, como já fora antes no regime militar. E nestes Estados, o número de eleitores por deputado eleito era muito menor do que nos Estados mais populosos e desenvolvidos do Sudeste e do Sul. Este casuísmo eleitoral permitiu a dominância de políticos paroquiais, com “currais eleitorais” nos rincões. Nada disso faciliatava a formação de partidos com identidade política e programática nacionais.
Nos seus 8 anos de governo, o presidente Fernando Henrique Cardoso teve que depender de alianças de partidos para poder governar com o apoio do Congresso. Isto gerou, entre os estudiosos da política, o conceito de “presidencialismo de coalizão”. FHC governou com um forte apoio de partidos menos definidos programaticamente, mas ideologicamente conservadores e identificados com o liberalismo, como o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e o Partido Frente Liberal (PFL). Estes partidos (e outros de menor expressão) não davam seu apoio a um programa do PSDB, mas buscavam um lugar ao sol nas benesses do poder. A distribuição de cargos e nomeações de parentes e apaniguados de deputados e senadores foi a moeda de troca para o apoio. O caso mais notório, porque exigia maioria de 2/3 do Congresso para aprovar um Projeto de Emenda Constitucional, foi a instituição da reeleição para cargos executivos. A compra de votos para assegurar a reeleição de FHC só não resultou em um processo judicial porque o controle dos instrumentos pelo executivo era forte. O PT, o PSB e o PDT ficaram clamando no deserto, denunciando a patifaria. Mas o mais importante é que se estabeleceu um precedente e os políticos fisiológicos de todos os lados começaram a lamber os beiços e afiar as garras.
A eleição de Lula colocou o PT e os partidos que o apoiaram no segundo turno, PSB, PDT e PCdoB no governo, mas claramente não no poder. A maioria da Câmara e do Senado era de oposição conservadora, muito embora a vertente mais importante era a fisiológica e muitos estavam prontos a aderir; por um preço, é claro.
A posteriori soube-se que o “primeiro-ministro” de Lula, José Dirceu, propôs a solução tucana para governar, chamando o PMDB e alguns partidos de centro direita para o governo, mas que Lula e o PT não toparam esta “compra de votos” no atacado.
Esta proposta de frente de governo fazia sentido do ponto de vista pragmático, até porque o PT e o presidente Lula já tinham abandonado as propostas mais ousadas do programa da campanha antes mesmo da eleição, com o manifesto que ficou conhecido como “Carta aos brasileiros” e que poderia ser melhor intitulada como “Carta aos banqueiros”. A nomeação de Palocci (inspirador e provável autor da carta) como ministro da Fazenda e de alguns ministros ligados a setores econômicos fortes com apoio de bancadas importantes como Roberto Rodrigues e Luiz Fernando Furlan, vinculados ao agronegócio, mostravam uma intenção de buscar conciliar interesses de setores da classe dominante. Foi uma manobra mal concebida, pois mesmo com barretadas seguidas a estes setores, o reflexo no Congresso não era automático, faltava a mediação política.
O governo Lula não teve dificuldades em aprovar seu primeiro projeto parlamentar importante, a Reforma da Previdência, já que o seu caráter de retrocesso de direitos era visto com simpatia pelo empresariado, pela mídia e pela maioria dos parlamentares. Para os setores mais à esquerda do PT, o choque foi grande e levou ao racha que criou o PSOL, mas o impacto foi mais aparente do que de fundo. O PT, inclusive várias de suas alas mais esquerdistas, entubou a crise, engoliu em seco e seguiu no governo, aceitando que era o preço a pagar para avançar com os programas sociais.
Daí para frente foi preciso fazer mais para garantir os votos necessários ao governo. Foi quando surgiram os pagamentos dirigidos a alguns partidos e à deputados individualmente, que ficaram conhecidos como “mensalão”. Como o próprio presidente Lula admitiu mais tarde, o governo fez “o que todos fizeram antes”, ou seja, pagamentos a um “caixa dois”. Considerado um crime menor, esta forma de corrupção dos parlamentares, feita com recursos públicos, acabou gerando a primeira grande crise dos governos petistas, com direito a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que condenou um punhado de deputados e, sobretudo, três personagens importantes do PT: José Dirceu, José Genoíno e o tesoureiro Delúbio Soares.
A eleição de Dilma Roussef não foi acompanhada por uma melhoria na força parlamentar dos partidos de esquerda, que continuaram amplamente minoritários. O problema de governar em minoria parlamentar continuou presente e o modelo de compra de apoios manteve-se semelhante, só que em escala maior. Recursos da Petrobras e outras empresas estatais foram desviados em larga escala para comprar, não mais no varejo, mas no atacado, envolvendo partidos fisiológicos que abundavam no Congresso. A moeda de troca eram contratos das estatais com empreiteiras poderosas que, é claro, ganhavam, através de superfaturamentos de projetos, muito mais do que pagavam a partidos e congressistas individuais.
Tudo isso explodiu no inquérito chamado de Lava Jato, amplamente explorado pela mídia para destruir o governo Dilma, que estava fortemente hostilizado pelo empresariado por suas orientações heterodoxas na economia.
Apesar disto, Dilma se reelegeu (batendo o tucano Aécio Neves no fotochart) e teria completado o seu segundo mandato não fosse o rompimento com o personagem chave do fisiologismo, o presidente da Câmara Eduardo Cunha. Os parlamentares beneficiários da distribuição de benesses não teriam dado ouvidos ao clamor da mídia incensadora do nefando Sérgio Moro, se não tivesse havido o impasse entre Cunha e o PT e a decisão do primeiro de aderir ao golpe.
Casuísmos legais (as chamadas “pedaladas fiscais”) e as articulações do vice- presidente Michel Temer, somados aos movimentos de massa da direita renascida nas manifestações de 2013 e a gritaria cínica da mídia (que não fez nada nem de longe parecido nos escândalos anteriores do Banrisul e outros) criaram o clima para a defenestração de Dilma.
Os fisiológicos no Congresso farejaram o fim da era petista e completaram o quadro do impeachment da nossa primeira presidente. Dilma ainda tentou deter a debandada, cedendo à ofensiva parlamentar para ampliar o controle da execução do orçamento, tornando obrigatórias as emendas individuais e de bancada. Mas foi muito tarde.
Não discuto aqui o cinismo de todos estes personagens, a começar pelo Moro, explorando e extrapolando um caso real de corrupção. Outros casos existiram antes sem este estardalhaço e desenlace, mas a composição das forças políticas e econômicas era outra e ignorou as manobras escusas de Sarney e FHC. Também foi outro o quadro político no impeachment de Collor, já que este não tinha oposição política nem ideológica nas classes dominantes ou na mídia. Collor cai por soberba, por tentar ser mais do que podia e sem fazer as concessões necessárias ao fisiologismo. Tentou pressionar o Congresso, apelando para o “povo”, mas não tinha base para tanto. Jânio Quadros já tinha pagado com o seu mandato uma jogada semelhante, mas a renúncia o livrou de um impeachment.
Temer governou, no seu interregno, de acordo com banqueiros e empresários e fez um estrago nos direitos sindicais e trabalhistas e não teve problemas em arregimentar os partidos de direita para ter apoio no Congresso. Como ex-presidente da Câmara, ele era versado na arte de distribuir benesses. Apesar de flagrado em negociações de corrupção com o dono da JBS, ele livrou-se de qualquer percalço até deixar a presidência.
O trauma do impeachment (o segundo em 15 anos) deu mais fôlego ao Congresso, em um movimento de empoderamento que foi num crescendo no governo do energúmeno, Jair Bolsonaro. Apesar de ter uma bancada de seguidores surpreendentemente forte nas eleições de 2018 embora espalhados em várias legendas. Bolsonaro não tinha um partido forte que o apoiasse e tentou governar através de alianças com grupos de interesse e ignorou os partidos. Queria governar com as bancadas BBB (Boi, Bala e Bíblia), suprapartidárias, mas estas só se uniam em seus interesses específicos. Tentou pressionar o Congresso, apelando diretamente a seus seguidores, mas teve mais derrotas que vitórias, fora a Reforma da Previdência. Com a queda vertiginosa de apoio na mídia convencional e uma crescente oposição à sua postura na pandemia, Bolsonaro acabou se entregando nas mãos de Artur Lira para não ser impichado e o empoderamento do Legislativo frente ao Executivo acelerou-se.
Bolsonaro, apesar da forte e sinistra base parlamentar que dispunha, não encontrou eco para suas manobras golpistas. O instinto dos ratos deve ter acometido os fisiológicos que puderam sentir o cheiro de queimado. Entregar o poder ao candidato a ditador era dar um tiro no pé, deve ter calculado a maioria. Melhor um Lula enfraquecido no governo, passível de ser chantageado pela maioria parlamentar, do que um Bolsonaro com apoio militar e miliciano, disposto a assumir o poder total.
E assim chegamos ao labirinto no seu formato atual.
A que ponto chegamos!
As emendas individuais dos parlamentares não são uma novidade, mas as regras da sua definição e liberação vêm sendo modificadas ao longo dos últimos 10 anos. Inicialmente os valores eram relativamente pequenos, condicionados a negociações com ministérios para definir escopo e prioridades e sujeitos à vontade do Executivo para serem liberados. E viraram moeda de troca para votações no Congresso. As emendas individuais, hoje, aumentaram muito em valor, tornaram-se impositivas e não passam mais por negociações sobre conteúdo e prioridades com o Executivo. Esta mudança, aparentemente, é de caráter democrático, já que igualava o acesso a todos os parlamentares, com os mesmos valores, anulando o balcão de negócios do executivo na sua relação com o Congresso.
Na prática, no entanto, o efeito desta modalidade de peça orçamentária foi nefasto para o país. Não se trata mais do Congresso alterar a Lei Orçamentária Anual, direito assegurado na Constituição. O projeto orçamentário do Executivo responde a uma lógica macroeconômica e social inspirada em uma estratégia de desenvolvimento e um diagnóstico das carências maiores da população. As alterações introduzidas pelo congresso tem sido, frequentemente, uma série de casuísmos para privilegiar setores da economia e da população, pervertendo a matriz de programação oferecida pelo Executivo. Apesar disso, o escopo da LOA se mantém, mais ou menos aleijado, nacional.
As emendas individuais (e as outras que analisaremos adiante) ferem o espírito do funcionamento do Executivo nacional, com uma crescente apropriação de recursos para projetos pulverizados, dirigidos para aplicação nas bases eleitorais de cada parlamentar, em temas e públicos escolhidos por eles.
Os congressistas argumentam que eles conhecem melhor do que o executivo as necessidades do povo, mas a lógica dos projetos nas emendas sempre foi a visibilidade e sua conseguente apropriação eleitoral. E, não esqueçamos, a lógica de facilitar o financiamento de empresas executoras próximas aos proponentes.
Alguns chamaram este desvio de “municipalização do orçamento”, mas o epíteto me parece incorreto. Um orçamento municipal trabalha, ou deveria trabalhar, em um escopo abrangendo a totalidade dos problemas da população que nele vive. Se elaborado com participação da vereança, ele traduz uma visão de diferentes setores que se expressam politicamente nas eleições locais. As emendas individuais não têm nada a ver com o orçamento municipal, mas com o interesse dos parlamentares que as definem. É uma extrema pulverização da utilização dos recursos.
Por outro lado, a emenda individual tornou-se um poderoso instrumento de manipulação das eleições, com vantagens cada vez maiores para os que buscam reeleição em comparação com os outros candidatos. Estamos em pleno processo de formação de “currais eleitorais” de novo tipo e os parlamentares de hoje assumem o posto dos antigos “coronéis”, oligarcas que controlavam uma base de eleitores com a distribuição de prendas em cada pleito.
Finalmente, mas não por último, este tipo de emendas, com recursos dirigidos a prefeituras ou, mais frequentemente, a organizações não governamentais controladas ou próximas dos parlamentares que as formularam, tornaram-se instrumentos de corrupção direta, com desvio de recursos, superfaturamentos, favorecimento de empresas executoras. Uma supermáquina de apropriação indébita de recursos públicos, corrupção diluida em milhares de emendas ao longo dos anos.
As emendas individuais foram seguidas pelas emendas de Bancada e de Comissão (forma de organização temática do Congresso). supostamente, estas emendas deveriam aprovar projetos de caráter nacional ou regional, com temas que aparecem nas LOAs ou não. De fato, estas emendas acabaram servindo para novas pulverizações de recursos, desta vez em negociações internas em cada partido ou em cada comissão parlamentar, sem qualquer referência quer às prioridades definidas nas LOAs, quer a qualquer outra lógica estratégica para o país. Elas serviram para reforçar o poder dos dirigentes de Bancadas e de Comissões, em balcões de negócios para garantir apoios aos chefes. Logo a emenda de Bancada tornou-se também impositiva, retirando qualquer capacidade de negociação do executivo entorno a suas prioridades orçamentárias.
Não contentes com este formato e buscando despistar possíveis investigações do Tribunal de Contas da União, os parlamentares criaram as emendas de Relator (também conhecidas como emendas secretas) e as emendas “PIX”. Nestas não há qualquer transparência: não se sabe quem fez a proposta, quem recebeu o dinheiro, qual a natureza do projeto nem quem o executa. É mole ou querem mais? Tem mais. As emendas de Relator, estão totalmente sob o controle do relator da LOA, hoje sob as asas dos presidentes da Câmara e do Senado. Trata-se de um espetacular instrumento de controle político das casas parlamentares por seus presidentes, dando a Lira e Pacheco o poder de pressionar o executivo como nunca no passado.
No frigir destes ovos, acabamos por chegar ao descalabro atual, quando os parlamentares controlam um orçamento (pulverizado em valores e em foco) de 50 bilhões de reais por ano, enquanto o governo federal tem apenas 70 bilhões para investimentos não carimbados constitucionalmente ou por alguma legislação.
Enquanto isso, a Reforma Tributária proposta pelo governo federal foi profundamente deformada pelos parlamentares, para isentar setores da economia com os quais tem relações ou apoio financeiro. Com isso, a fonte de recursos, já bem minguados pelas emendas, fica ainda mais precária, já que os parlamentares decidiram privilegiar, por exemplo, o agronegócio, com amplas isenções de impostos. Por um lado o Congresso asfixia o executivo enquanto, por outrol lado,suga seus recursos sem dó nem piedade.
Como escrevi no começo deste artigo, isto não é apenas um problema do Lula ou do governo petista. Será o problema de qualquer governo que pretenda cumprir o seu papel constitucional.
Estamos no pior dos mundos com este legislativo que se locupleta com os recursos públicos e, sem qualquer constrangimento, cria dificuldades para o executivo governar. E denuncia qualquer limitação na ação do governo, como se não tivesse nada a ver com ela.
Não estamos em um regime parlamentarista, onde um primeiro-ministro escolhido pelo Congresso apresenta um projeto orçamentário cuja responsabilidade é do próprio parlamento. Em um regime parlamentarista, esta mixórdia orçamentária seria claramente de responsabilidade do Congresso e os eleitores saberiam de quem cobrar as desgraças. No nosso regime presidencialista atrofiado, os eleitores cobram as desgraças do executivo, sem noção de que o legislativo é o grande responsável por elas.
Para escapar deste labirinto vai ser preciso um tsunami eleitoral capaz de criar uma base parlamentar que decida se empenhar em uma reforma política profunda, redefinindo as relações de força entre os poderes da República. A eliminação de todas estas emendas casuísticas seria um passo fundamental para reestabelecer a capacidade do Executivo governar, mas outras questões teriam que vir à baila e todas elas espinhosas por derrubar privilégios parlamentares acumulados ao longo do tempo.
Seria preciso, por exemplo, redefinir quantos deputados teria cada Estado, seguindo a lógica republicana de termos um só coeficiente eleitoral em todo o país, ou seja, cada deputado seria eleito pelo mesmo número de eleitores. Se adotada esta norma, e mantido o número atual de deputados, o rateio significaria diminuir o número de deputados em Estados menos populosos e aumentá-lo naqueles com mais eleitores. Imaginem a gritaria! A alternativa seria ampliar o número total de deputados, em uma Câmara que já é muito numerosa (e dispendiosa).
Outras regras de difícil aprovação teriam que ser aprovadas, como cláusulas de barreira mais restritivas para diminuir a fragmentação partidária. Ou a redefinição do processo eleitoral, adotando sistemas mais racionais como o sistema proporcional misto, com voto em listas partidárias e em candidatos individuais.
A lista das reformas a serem discutidas e implementadas para aperfeiçoar o nosso sistema político e eleitoral é enorme e esbarra sempre na contradição de fundo: quem teria que cortar na carne são os próprios congressistas, eleitos neste sistema viciado de hoje.
No meio deste caos, é importante ressaltar o papel desejável do Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal. O STF, por iniciativa do ministro Flávio Dino, suspendeu as emendas, primeiro as de Relator e Pix e, depois mesmo as individuais e de bancada. Aposição foi endossada pelo plenário, com o argumento da falta de transparência e falta de critério na definição dos abjetivos, temas e escopo das emendas. No entanto, o STF não se debruçou na entorse aplicada na legislação constitucional que dá ao executivo o direito de definir o ordenamento orçamentário, gantindo-se a apreciação das duas casas na votação da LOA. O “acordo” para normalizar e regulamentar as emendas, após negociações entre os três poderes, restringiu-se a discutir a necessidade de critérios “técnicos” e regras de transparência, mas nada foi feito para evitar a presente diluição dos gastos orçamentários, que quase igualam os do executivo, em projetos paroquiais.
A retaliação do Legislativo contra o Judiciário aparece em vários projetos de lei que vão desde a roubar o papel do STF como árbitro final do que é ou não legal no país até controlar a liberação de verbas pedidas pelo judiciário. Noves fora propostas de impeachment contra ministros que não agradam os parlamentares.
A luta de foice do legislativo para ampliar o seu poder de mando no país e dominar o executivo e o judiciário não tem prazo para terminar e o que está em jogo é algo mais profundo: qual o regime político que devemos adotar? Na prática, estamos longe do que define a Constituição e aquilo que mais de um referendo confirmou. O nosso regime é presidencialista, ou deveria ser. Estamos vivendo um crescente processo paulatino de nos tornarmos um regime parlamentarista bastardo, onde o legislativo tem todos os bonus e nenhum dos ônus. E não há reação do STF em relação a isto.
Dar a volta neste rumo é difícil de realizar, mas algo terá que ser feito ou a crise institucional que atrofia o executivo nos levará para um buraco ainda maior do que aquele onde estamos.
*Ex-presidente da UNE, entre 1969 e 1971; Fundador da ONG Agricultura
Familiar e Agroecologia (AS-PTA) em 1983; E Membro do
CONDRAF/MDA entre 2004 e 2016 Milit
Foto: Freepik
Os artigos expressam o pensamento de seus autores e não necessariamente a posição editorial da RED. Se você concorda ou tem um ponto de vista diferente, mande seu texto para redacaoportalred@gmail.com. Ele poderá ser publicado se atender aos critérios de defesa da democracia.